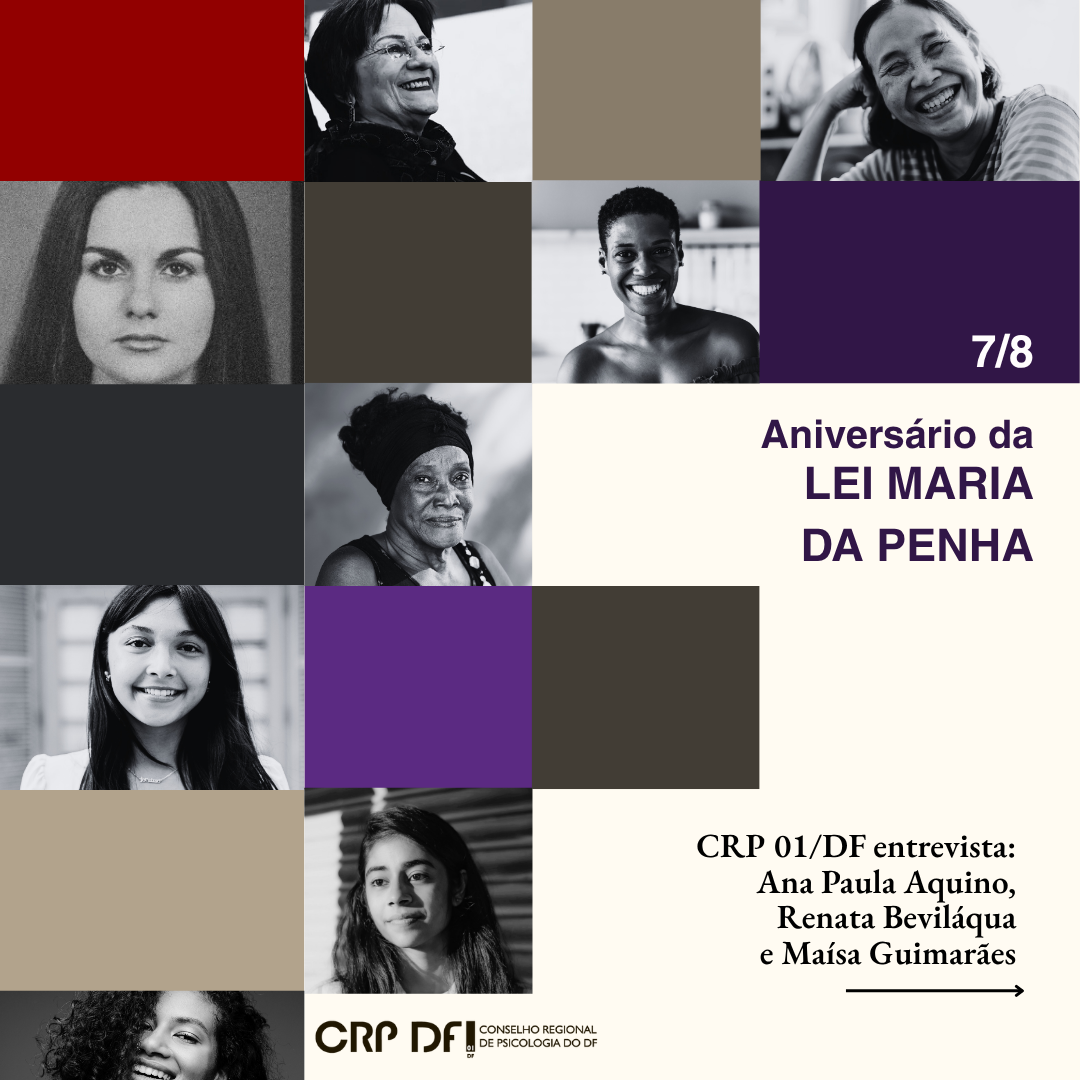 | CRP 01/DF ENTREVISTA |
| CRP 01/DF ENTREVISTA |
CRP 01/DF publica série de entrevistas em referência aos 35 anos da Lei Maria da Penha
As psicólogas Ana Paula de Aquino, Renata Beviláqua e Maísa Guimarães analisam os avanços e desafios da Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência contra mulheres
No mês em que a Lei Maria da Penha completa mais um ano de vigência, refletimos sobre os avanços e desafios no enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340 é considerada um marco histórico na proteção dos direitos das mulheres, ao reconhecer a violência doméstica como uma violação aos direitos humanos e estabelecer medidas de prevenção, assistência e punição. A atuação da Psicologia é fundamental nesse contexto, tanto na escuta qualificada das vítimas quanto na formulação de políticas públicas e ações intersetoriais.
Para aprofundar esse debate, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal conversou com profissionais que atuam na linha de frente da aplicação da Lei Maria da Penha.
A psicóloga Ana Paula de Aquino é mestre em Psicologia Clínica (UnB), com especialização em Saúde Mental, formação em Psicanálise, vasta experiência no enfrentamento à violência de gênero e, atualmente, integra o “Programa Elas”, que oferece acolhimento psicológico a magistradas e servidoras vítimas de violência.
Renata Beviláqua Chaves é psicóloga, atua há 16 anos na prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, é analista judiciária e coordenadora administrativa da Coordenadoria da Mulher do TJDFT, onde desenvolve ações de implementação da Lei Maria da Penha, formação de profissionais e produção de materiais técnicos sobre violência sexual e de gênero.
Maísa Guimarães é psicóloga, doutora em Psicologia Clínica e Cultura (UnB), com trajetória voltada à formulação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, servidora da Secretaria da Mulher do DF, onde atua no Espaço Acolher, programa que atende famílias e autores de violência doméstica.
Nas entrevistas, as profissionais de Psicologia compartilham reflexões sobre os impactos da Lei, a escuta clínica em contextos de violência e os caminhos possíveis para fortalecer redes de proteção.
#DescreviParaVocê: os cards coloridos contam com parte do conteúdo textual acima, com fotografias ilustrativas em preto e branco do rosto de mulheres diversas, como a própria Maria da Penha, e com uma chamada à leitura do conteúdo completo no site do CRP 01/DF, além da marca gráfica da autarquia.
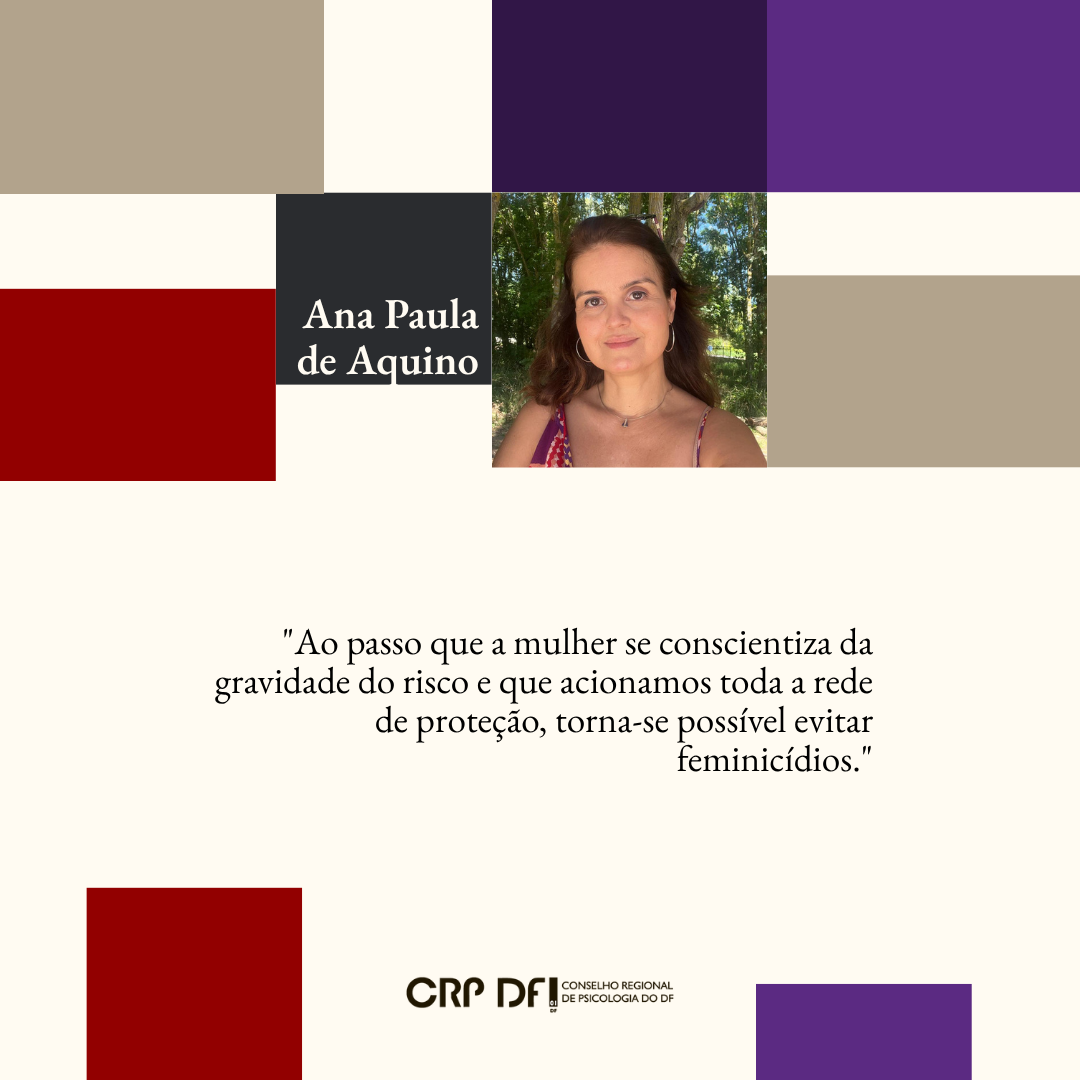.png)
ENTREVISTA COM ANA PAULA DE AQUINO:
Ana Paula é psicóloga (CRP 01/7142) graduada e mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Saúde Mental pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do DF. Possui formação em Psicanálise pela Intersecção Psicanalítica do Brasil e pela APOLa Brasília. É cofundadora da ONG Inverso, onde atuou até 2002 com foco em saúde mental. Atuou por 14 anos como psicóloga no assessoramento aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJDFT, colaborando com a implementação da Lei Maria da Penha no Judiciário. Atualmente, integra o “Programa Elas”, destinado ao atendimento de magistradas e servidoras vítimas de violência, e também participa de outras frentes ligadas à saúde mental de servidoras e servidores do sistema de Justiça. Mantém atuação clínica com perspectiva psicanalítica e enfoque em gênero.
1. Você poderia comentar algum caso ou situação que exemplifique como a atuação psicológica fez diferença no encaminhamento ou na proteção de uma vítima?
ANA PAULA DE AQUINO: A rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, que inclui o judiciário, a saúde, a assistência, a policia, etc., que chamamos "rede de proteção", tem um papel fundamental no acolhimento e acompanhamento às vítimas de violência. É fundamental conhecer a rede de cada território e estarmos articulados com os demais serviços especializados, além de fomentar o fortalecimento das redes. Já atendi mulheres que se retrataram, justificando que registraram ocorrência porque ficaram nervosas, ou porque o ofensor tinha bebido, ou porque ele estava estressado, mas que repensaram e gostariam de voltar atrás, pois o consideravam um ótimo marido/namorado. A nossa escuta especializada buscou favorecer a reflexão sobre os impactos da violência sobre a saúde física e mental da mulher, sobre os riscos envolvidos para si e para os filhos, sobre a importância da denúncia. E, ao passo que a mulher se conscientiza da gravidade do risco, e que acionamos toda a rede de proteção, torna-se possível evitar feminicídios. Por algumas vezes escutei a frase: "você salvou a minha vida". Contudo, é importante destacar que a autonomia da mulher precisa ser respeitada.
2. Em sua experiência, quais são os impactos psicológicos mais recorrentes nas mulheres que sofrem violência, e como o sistema de Justiça tem respondido (ou não) a esses efeitos?
ANA PAULA DE AQUINO: Mulheres que sofrem violência apresentam, em alguma medida, sofrimento mental. Na maior parte das vezes esse sofrimento se manifesta por meio de sintomas de ansiedade e depressão, além de quadros de estresse e de somatizações. Há impactos na vida familiar, laboral, financeira... O sistema de Justiça tem, na própria Lei Maria da Penha e no Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, os referenciais necessários para não revitimizar a mulher que busca o Sistema de Justiça e propiciar que a judicialização seja uma forma de cuidado, reparação e um instrumento de proteção, no entanto, isso nem sempre acontece. Embora tenhamos operadores do Direito suficientemente enfronhados com a temática, muitos não têm (e talvez não queiram ter) letramento de gênero, o que faz toda diferença na forma de compreender e julgar as situações de violência contra a mulher.
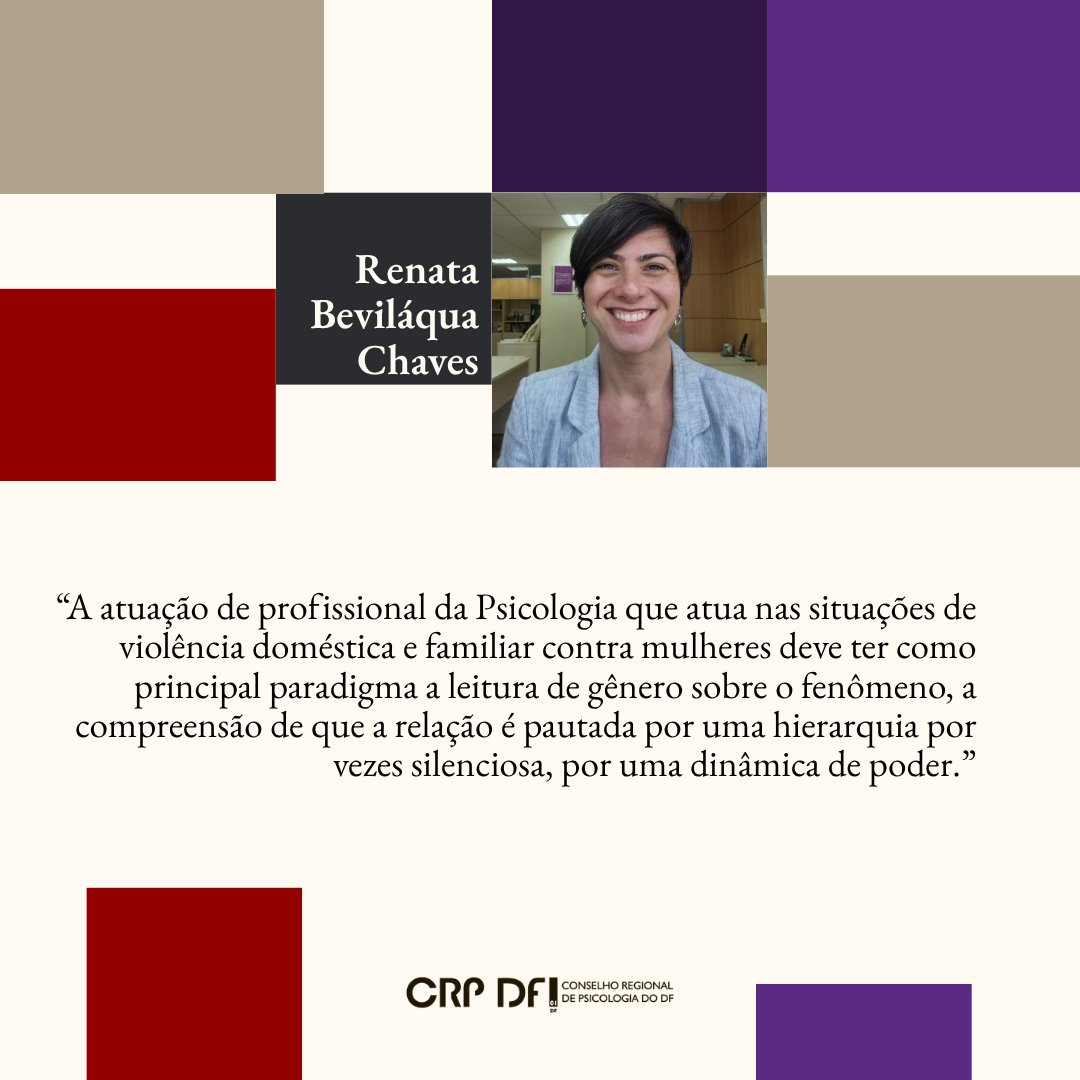.png)
ENTREVISTA COM RENATA BEVILÁQUA CHAVES:
Renata é psicóloga (CRP 01/11927) com especialização em Psicodrama, e atua há 16 anos na prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Atualmente, é Analista Judiciária – Especialidade Psicologia – e Coordenadora Administrativa da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), espaço estratégico para a efetivação da Lei Maria da Penha no âmbito do Judiciário. É autora e coautora de publicações sobre violência sexual, como o livro e curso MPVE – Abordagem Técnica das Situações de Violência Sexual e o Código de Conduta Brasil contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo. Atua como facilitadora de cursos, palestras e capacitações nas temáticas de violência sexual contra crianças e adolescentes, violência doméstica e familiar contra mulheres, e condução de grupos reflexivos com homens autores de violência.
1. A Lei Maria da Penha foi um marco no combate à violência de gênero, mas ainda enfrenta resistências na sua plena aplicação. Quais lacunas você identifica hoje entre o previsto na lei e o que se concretiza na prática?
RENATA BEVILÁQUA: A Lei Maria da Penha foi importantíssima para trazer luz a essa pauta, mostrar que a violência doméstica infelizmente ainda é rotineira e cotidiana na vida de muitas meninas e mulheres. Contudo, sua efetividade plena exige não apenas aplicação jurídica, pois é um tipo de violência que se diferencia por várias características, pode-se destacar aí o fato de ser uma violência praticada por uma pessoa por quem, na maioria das vezes, a mulher tem vínculo e afeto. Portanto, é essencial o fortalecimento da rede de apoio, de vínculos de afeto saudáveis, de apoio em vários níveis, como estrutura financeira, de creches, de oportunidades de emprego, ou seja, de investimentos permanentes em políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Ademais, é fundamental que haja uma mudança da cultura que até hoje legitima, banaliza e naturaliza as situações de violência contra as mulheres. É necessário o entendimento social mais amplo de que é papel da sociedade como um todo combater esse tipo de violência e promover a construção de uma sociedade mais igualitária e justa para todas as mulheres.
2. Como o trabalho das psicólogas e psicólogos nos tribunais pode ir além da avaliação técnica e se tornar uma ferramenta de defesa dos direitos das mulheres?
RENATA BEVILÁQUA: A atuação multidisciplinar está prevista nos artigos 29 a 32 da Lei Maria da Penha. A atuação de equipe multidisciplinar, ou seja, composta também por psicólogas(os/es), pode auxiliar na avaliação qualificada da temática considerando as questões de gênero implicadas, suas interseccionalidades, olhar sobre os fatores de risco e proteção, viabilizar o acesso a políticas públicas, a serviços não governamentais de apoio à vítima, entre outros.
3. Você poderia comentar algum caso ou situação que exemplifique como a atuação psicológica fez diferença no encaminhamento ou na proteção de uma vítima?
RENATA BEVILÁQUA: A atuação de profissional da Psicologia que atua nas situações de violência doméstica e familiar contra mulheres deve ter como principal paradigma a leitura de gênero sobre o fenômeno, a compreensão de que a relação é pautada por uma hierarquia por vezes silenciosa, por uma dinâmica de poder. Muitas vezes, as mulheres não conseguem perceber que estão inseridas numa relação de violência, discursos como “mas ele não me bateu, só me empurrou”, “ele estava nervoso esse dia”, “ele só fica agressivo quando bebe” são muito comuns. Então, nomear a violência é muito importante; auxiliar essa mulher a compreender que está inserida numa relação violenta é o primeiro passo para que possa procurar ajuda. Muitas vezes, a mulher se sente responsável pela manutenção do relacionamento, pelos filhos e isso é legitimado socialmente. Então, ajudá-la a compreender que esse fenômeno acontece é fundamental também, que ela não está sozinha, que pode receber apoio. Receber atendimento qualificado nos vários espaços em que é atendida é importantíssimo para que se sinta respeitada e acolhida.
4. Em sua experiência, quais são os impactos psicológicos mais recorrentes nas mulheres que sofrem violência, e como o sistema de Justiça tem respondido (ou não) a esses efeitos?
RENATA BEVILÁQUA: Os impactos na saúde mental das mulheres vítimas de violência doméstica são muito grandes. Comumente, apresentam baixa autoestima e ansiedade, que pode se tornar severa, com episódios de pânico e isolamento social. Além disso, também é frequente nas vítimas a depressão, podendo chegar à ideação suicida e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). São comuns também sintomas físicos, que estão associados à vivência de violência doméstica, tais como fibromialgia e psoríase. O Sistema de Justiça tem buscado oferecer às vítimas o encaminhamento para acompanhamento psicossocial junto à rede social de apoio. Vários programas podem ser ofertados às vítimas, como os oferecidos pelo Espaço Acolher, Casa da Mulher Brasileira e os Centro de Referência da Mulher Brasileira; Programa Direitos Delas; Centro Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAM; instituições não governamentais; parcerias com universidades e centros universitários.
5. Como pensar a prevenção da violência doméstica para além do atendimento às vítimas, incluindo autores e o entorno comunitário? Qual o papel da Psicologia nesse processo?
RENATA BEVILÁQUA: Considerando-se que o fenômeno da violência doméstica é social, que afeta todas as mulheres de qualquer classe e faixa etária, não há como pensar a atuação em violência doméstica sem essa expansão do olhar e atuação. A atuação nessas situações não pode centrar-se apenas no atendimento individualizado de cada mulher. Muitas vezes essa mulher estará inserida em um contexto de isolamento social, baixa autoestima, dependência emocional e, por vezes, financeira também. Deste modo, o fortalecimento desta mulher para que possa pedir ajuda e sair da situação de violência vai depender de forte e empenhada articulação entre os diversos atores da rede de atendimento, atuando de forma coesa e interconectada. Campanhas de prevenção, atuação nos diversos espaços, como escola e ambientes institucionais se fazem fundamentais também. Modificar a cultura machista, misógina e sexista, que naturaliza e banaliza as situações de violência, faz-se mister para modificar esse contexto. Os homens devem ser inseridos nessa discussão por vários motivos, mas sobretudo porque os dados de Segurança Pública apontam que os maiores agressores de violência doméstica contra mulheres são homens. Compreender-se como responsáveis por esta violência é importantíssimo. Existem grupos reflexivos para homens autores de violência, que se mostram efetivos para auxiliar no início desse processo reflexivo. A parceria dos homens que não praticam violência é importantíssima também: sair do silêncio cúmplice e colocar luz, denunciar. Um homem ouvir de outro homem que o que ele está fazendo é violência tem um valor importante na desconstrução da banalização da violência. Construir uma sociedade mais igualitária e justa é papel de todas e todos.
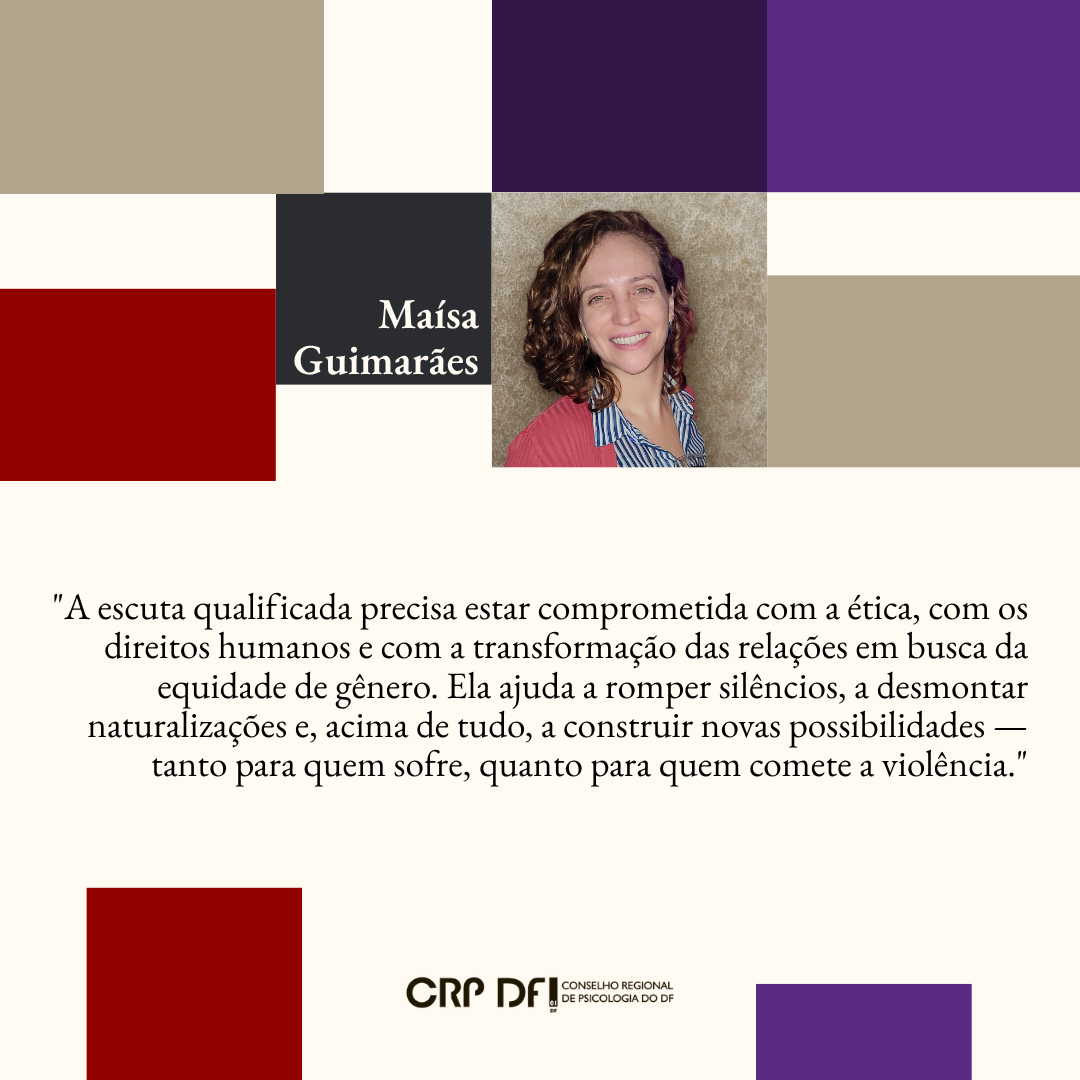.png)
ENTREVISTA COM MAÍSA CAMPOS GUIMARÃES:
Maísa Guimarães é psicóloga (CRP 01/15590), doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, mestra em Desenvolvimento Humano e Saúde pela mesma instituição e pós-graduada em Terapia Familiar e de Casais pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás (PUC-GO). Realizou mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, Portugal, com participação em disciplinas do Mestrado Integrado em Psicologia. É servidora da Secretaria de Estado da Mulher do DF, na carreira de Especialista em Assistência Social – Psicóloga, com atuação no Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVD-GDF), que hoje se chama Espaço Acolher. Atua na formulação, execução e gestão de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, com base na Lei Maria da Penha. Também desenvolve prática clínica com enfoque em Psicanálise e Gênero. Seus campos de interesse incluem estudos de gênero, masculinidades, violências e desenvolvimento humano.
1. A atuação da Psicologia na rede de enfrentamento à violência doméstica tem sido fundamental para a proteção de mulheres, crianças e adolescentes. A partir da sua experiência no Espaço Acolher (antigo NAFAVD) e na Secretaria da Mulher do Distrito Federal, quais avanços e desafios você enxerga nessa atuação?
MAÍSA GUIMARÃES: A Lei Maria da Penha foi um marco essencial no enfrentamento da violência contra as mulheres ao propor não apenas a criminalização dessas violências, mas também estratégias de prevenção, atuação intersetorial, assistência multidisciplinar, atendimento humanizado e mudança de paradigmas sociais, culturais e institucionais em prol da equidade de gênero. Nesse contexto, há um avanço importante na formulação de políticas públicas que consideram a integralidade, a intersetorialidade e a multidisciplinaridade, ao mesmo tempo em que provocam reflexões fundamentais sobre a práxis da Psicologia nesse campo.
Apesar desses avanços, ainda enfrentamos desafios significativos na garantia e na valorização da presença de profissionais da Psicologia nas equipes interdisciplinares da Saúde, da Assistência Social, da Justiça, da Educação, da Segurança Pública, entre outros âmbitos. Além disso, é necessário reconhecer que a Psicologia, historicamente, teve uma atuação marcada por uma lógica conservadora — voltada ao controle, à categorização e à adaptação dos corpos femininos a modelos morais que perpetuam posições desiguais para mulheres (cis ou trans) e reforçam os privilégios masculinos.
Diante disso, considero um desafio central que a Psicologia consolide um posicionamento ético-político comprometido com as perspectivas de gênero e de direitos humanos. Isso implica, muitas vezes, em tensionar suas próprias premissas teóricas e técnicas, repensando práticas tradicionalmente centradas no intrapsíquico de forma isolada e descontextualizada historicamente. Exige, ainda, reconhecer como os marcadores sociais — gênero, raça, classe, sexualidade, entre outros — se interseccionam e constituem as subjetividades, ampliando a potência da Psicologia como ferramenta de transformação social.
2. Como a escuta qualificada promovida por psicólogas e psicólogos pode contribuir para o rompimento dos ciclos de violência e para a responsabilização dos autores?
MAÍSA GUIMARÃES: A escuta qualificada é uma ferramenta fundamental que vai muito além de simplesmente ouvir — trata-se de acolher; de construir um espaço seguro, no qual a pessoa possa falar sem medo de julgamento; de propiciar que o sujeito compreenda sua trajetória, elabore suas experiências e possa enxergar possibilidade de transformação.
Para as mulheres que vivenciam situações de violência, a escuta qualificada e com perspectiva de gênero permite que elas começem a identificar e nomear tais violências, a reconhecer os sofrimentos e os impactos emocionais, sociais e concretos no seu cotidiano e fortalecer sua autonomia na luta por seus direitos e sua proteção.
No caso dos homens autores de violências de gênero contra mulheres, a escuta qualificada é uma ferramenta de responsabilização — não como culpabilização moral, mas como convocação à reflexão crítica sobre seus atos, suas crenças e seus modos de se relacionar. É um trabalho reflexivo, que propõe que os homens repensem os padrões hegemônicos da masculinidade e suas implicações em práticas sociais que subalternizam mulheres e buscam espaço de privilégios aos homens.
A escuta qualificada, nesse sentido, precisa estar comprometida com a ética, com os direitos humanos, e com a transformação das relações em busca da equidade de gênero. Ela ajuda a romper silêncios, a desmontar naturalizações e, acima de tudo, a construir novas possibilidades — tanto para quem sofre quanto para quem comete a violência.
3. Você poderia compartilhar alguma situação em que a intervenção psicológica tenha sido decisiva para a proteção ou para a reparação de direitos de mulheres e suas famílias?
MAÍSA GUIMARÃES: É recorrente que mulheres cheguem ao atendimento, seja na clínica privada ou nos serviços públicos, apresentando um sofrimento psíquico intenso — com sintomas de ansiedade, quadros depressivos, insônia e um sentimento profundo de culpa pelo 'fracasso' de seus relacionamentos. A perspectiva de gênero nos ensina que, em nossa cultura, as mulheres vivenciam o amor como uma questão identitária, na qual ser escolhida/amada por um homem está associado a ser legitimada socialmente e a se sentir como pessoa/mulher digna. Por isso, para as mulheres, o fim de um relacionamento amoroso ou o risco de rompimento conjugal (mesmo após uma experiência violenta), costuma ser sentida por elas como um fracasso pessoal e um questionamento identitário. E, ao oferecermos escuta qualificada, espaço de acolhimento seguro e intervenções técnicas com perspectiva de gênero, podemos contribuir para que elas compreendam suas angústias, não simplesmente como experiência individual ou falha pessoal, mas como respostas a contextos estruturalmente opressivos e desiguais. Essa politização do sofrimento é um meio essencial para ressignificar suas dores e reelaborar recursos pessoais e estratégias de enfrentamento. Este é um passo importante: identificar e nomear violências que antes eram invisibilizadas por discursos morais que banalizam um cotidiano de humilhação, de silenciamento, de isolamento social, e que ainda romantizam que ciúmes seria prova de amor ou que tentativas de controle seriam condutas normais e esperadas nos vínculos afetivos.
A partir daí, a Psicologia atua como uma ponte para a rede de proteção. A intervenção não se encerra no setting terapêutico; ela se expande na articulação com outros serviços. Apoiada e com sua autonomia fortalecida, a mulher pode se sentir mais segura para buscar seus direitos junto ao Sistema de Justiça ou Segurança Pública, e/ou para procurar a assistência do Estado em suas políticas de assistência social, saúde ou moradia. Portanto, a intervenção psicológica é decisiva não apenas por 'tratar' os sintomas, mas por atuar como catalisadora da autonomia. Ela pode ser a ferramenta que ajuda a mulher a se posicionar como sujeito de direitos, acessar a rede de enfrentamento à violência e buscar a garantia de seu direito a uma vida sem violência.
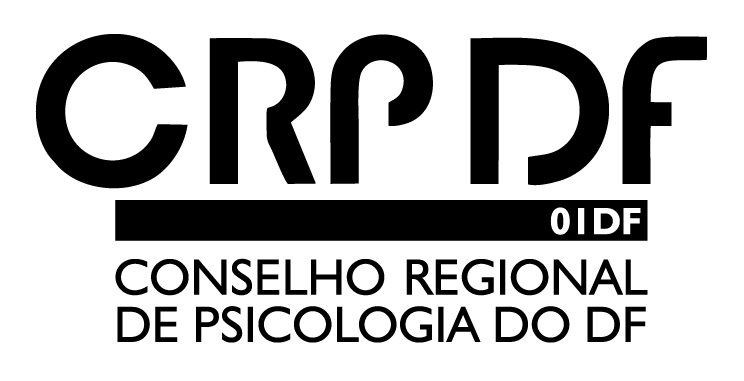
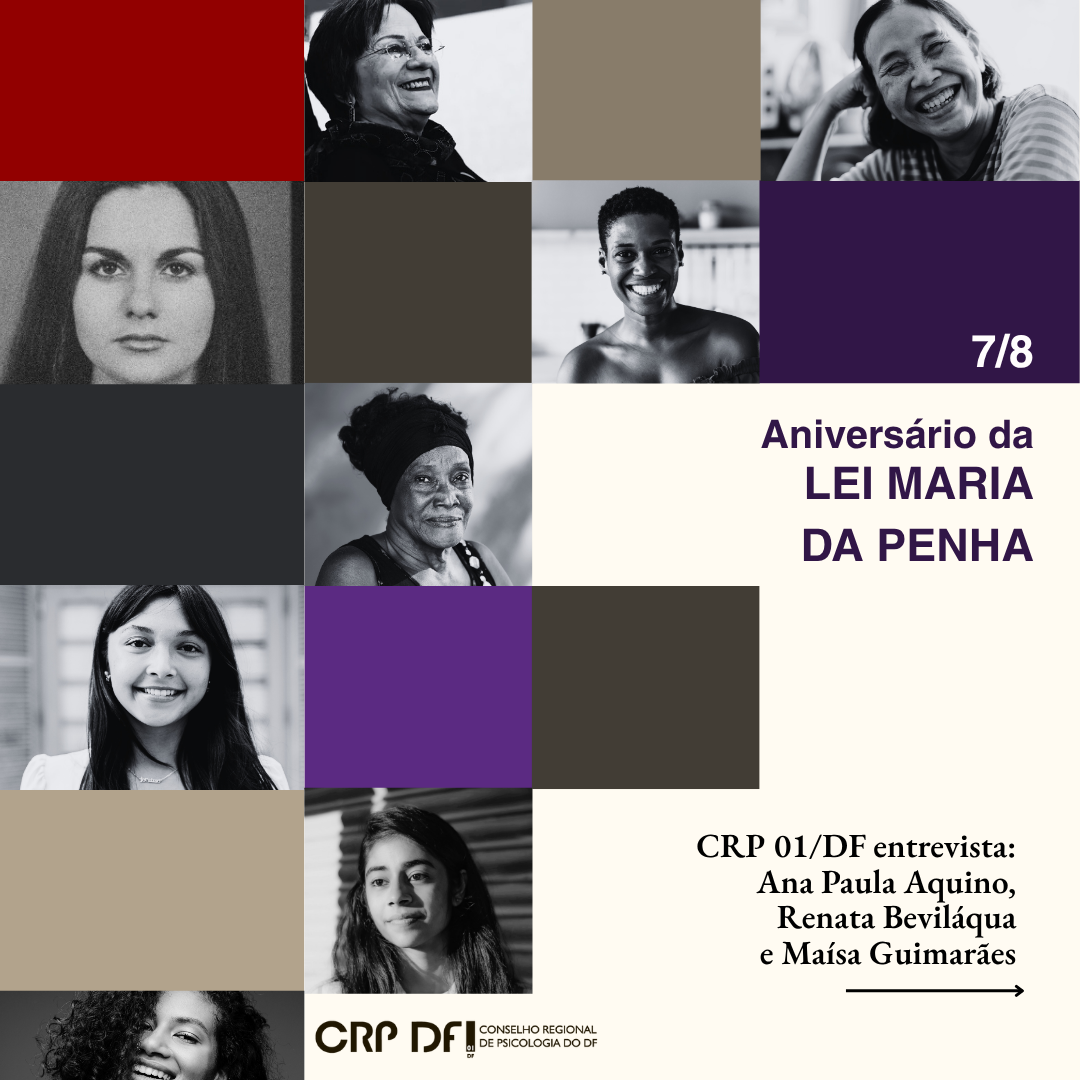 | CRP 01/DF ENTREVISTA |
| CRP 01/DF ENTREVISTA | 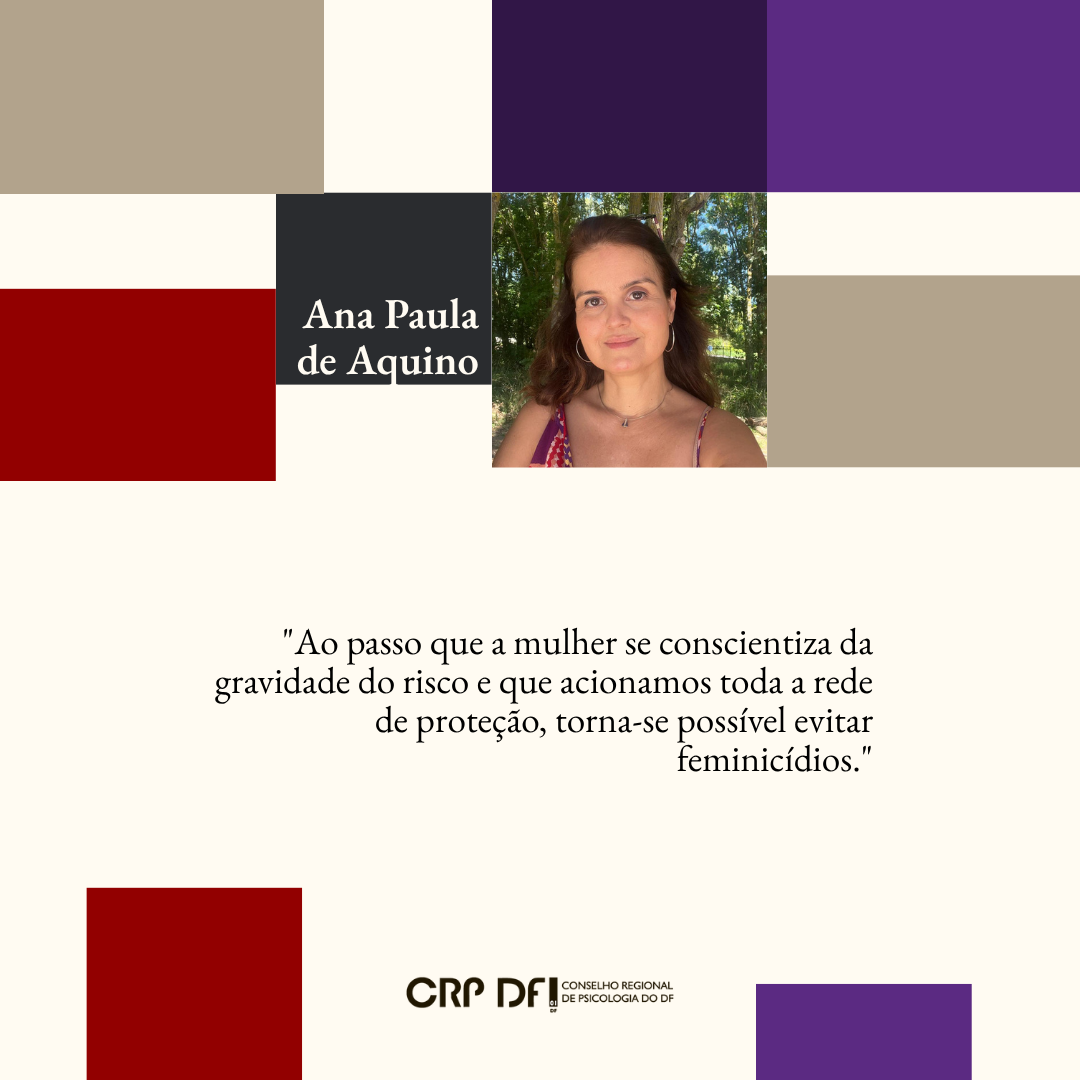.png)
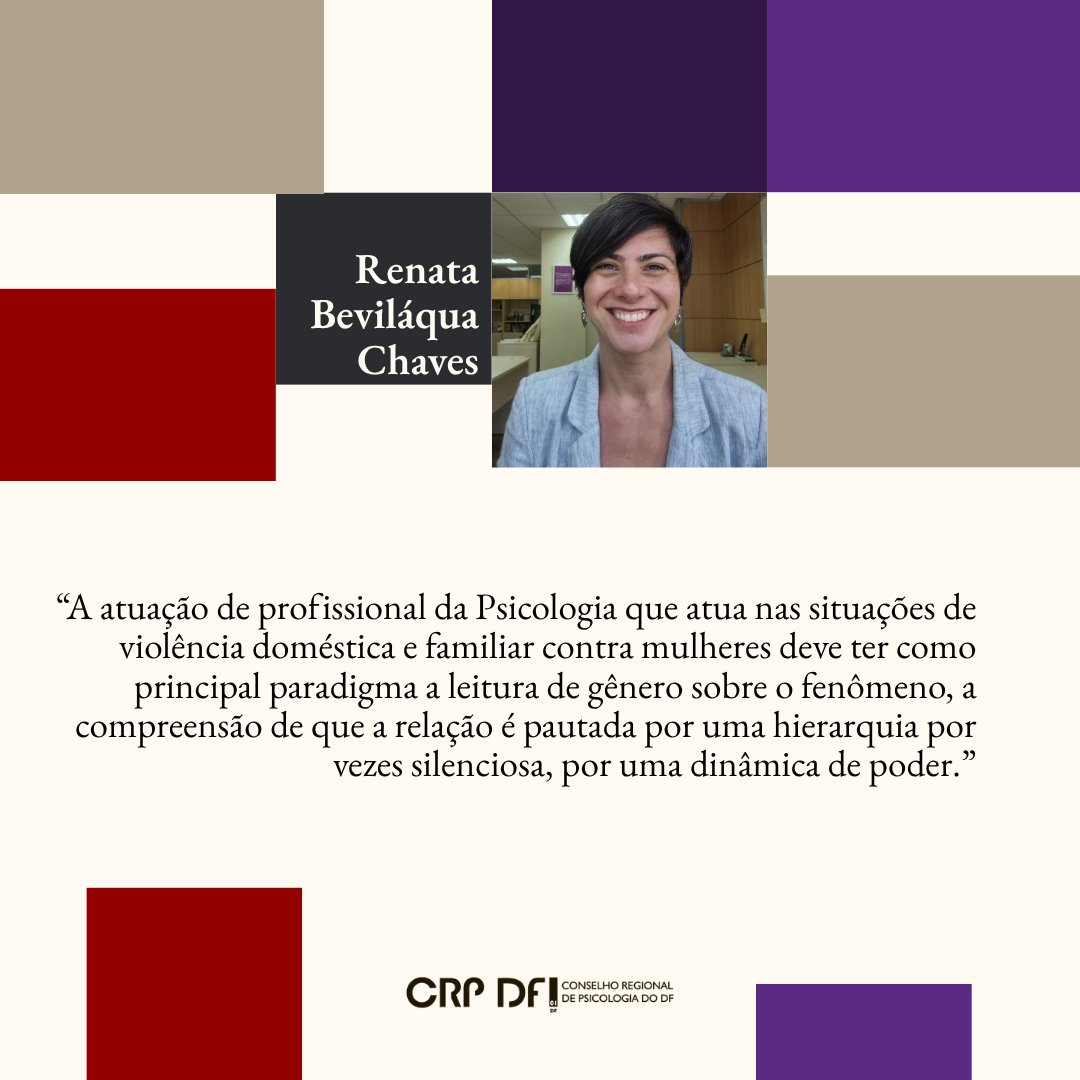.png)
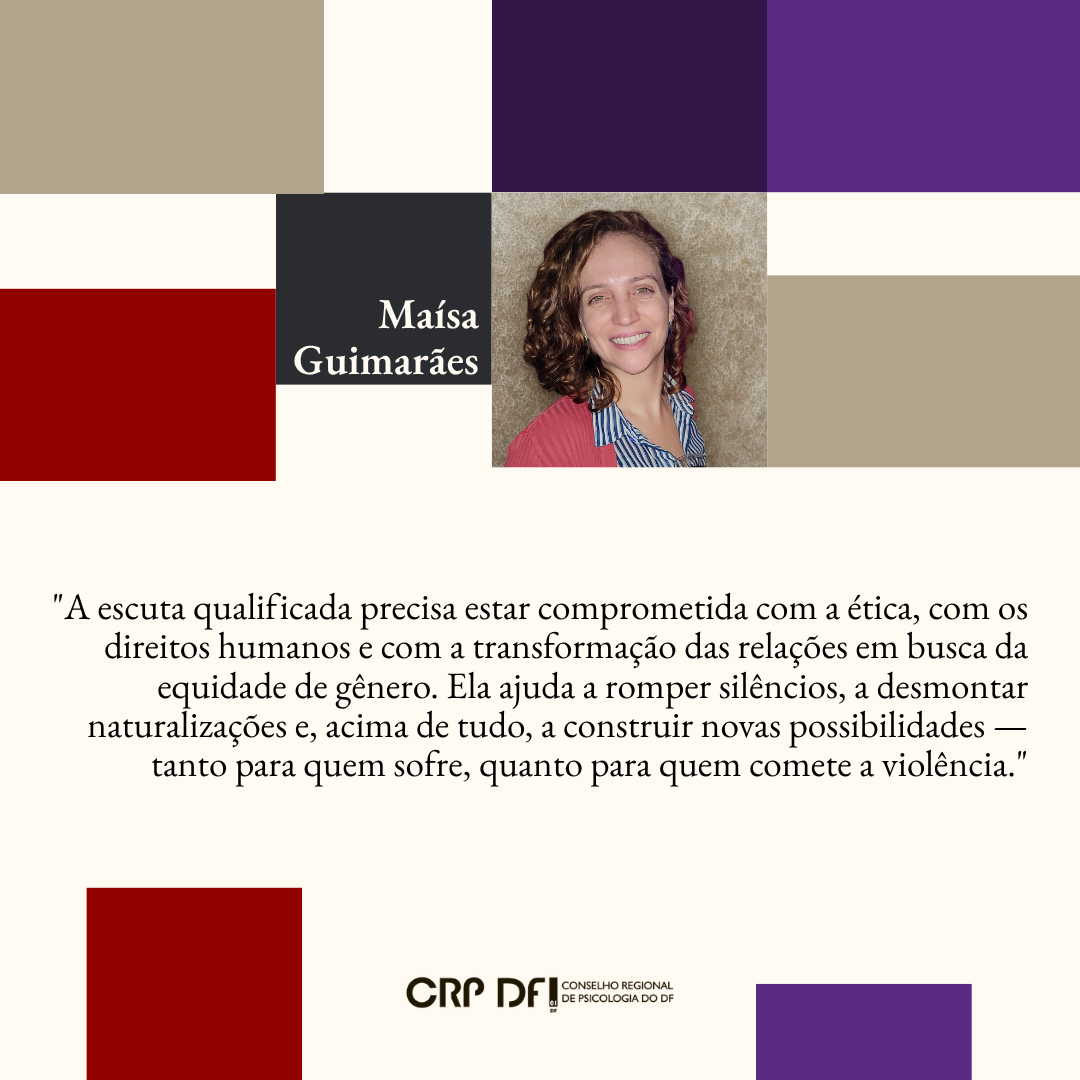.png)