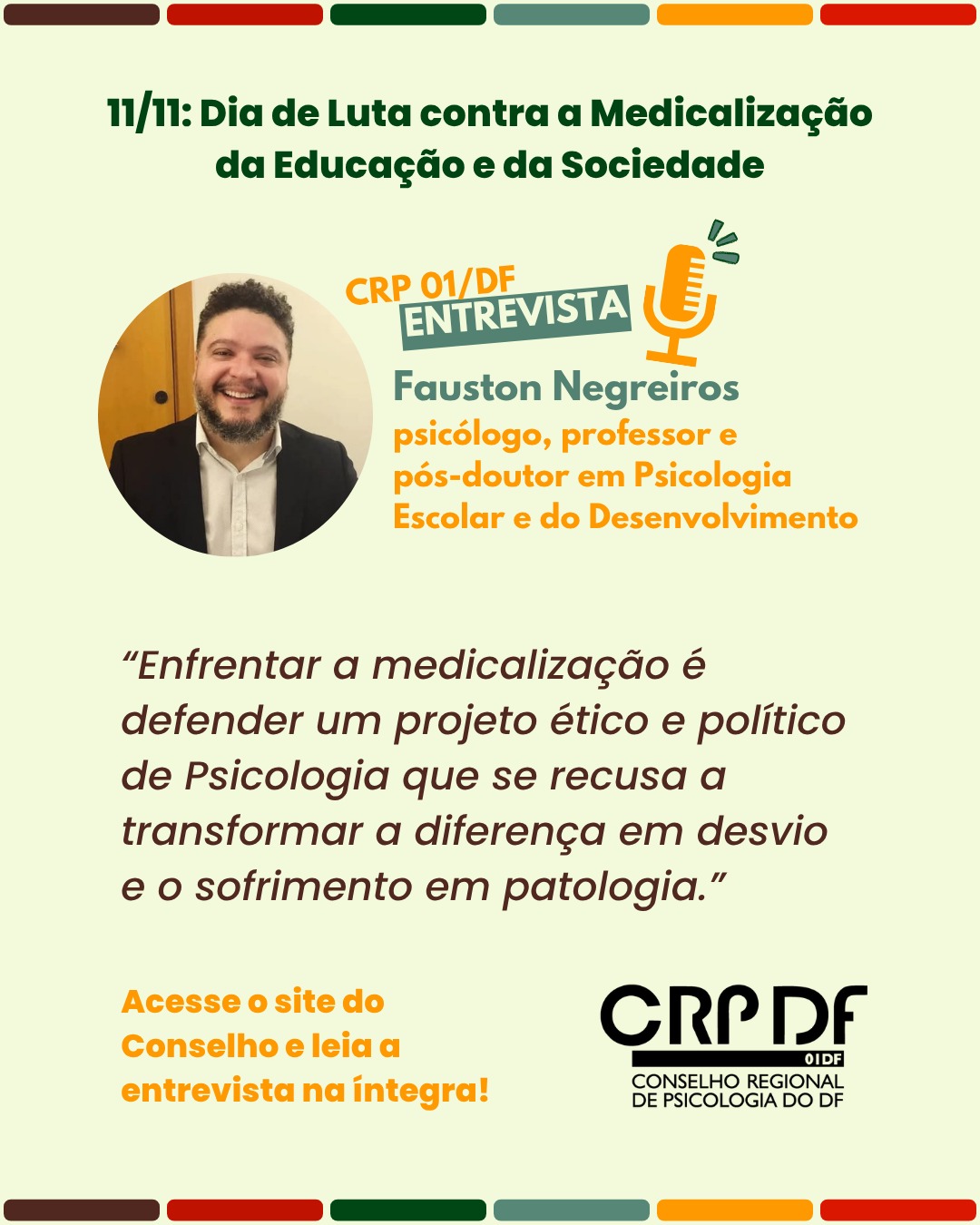 | CRP 01/DF ENTREVISTA |
| CRP 01/DF ENTREVISTA |
11/11: Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade
Confira a entrevista com Fauston Negreiros, psicólogo, professor e pós-doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento
O Dia Nacional de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade, celebrado em 11 de novembro, é uma data que convoca profissionais da Psicologia, da Educação e de outras áreas a refletirem sobre como a lógica biomédica tem invadido o modo de compreender o sofrimento humano, a aprendizagem e a diversidade.
Para discutir esse tema, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal entrevistou o professor Fauston Negreiros, psicólogo, pós-doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento pela USP, docente do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB) e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). Sua trajetória acadêmica e atuação política estão fortemente ligadas à defesa de uma Psicologia Escolar Crítica, comprometida com práticas emancipatórias e com o enfrentamento das desigualdades que atravessam o cotidiano das escolas públicas brasileiras.
Na entrevista, Fauston reflete sobre o que significa viver em uma sociedade medicalizada e alerta para os riscos de transformar diferenças em diagnósticos. Ele analisa o impacto dessa lógica na infância e na adolescência, explica o conceito de “queixa escolar” sob uma perspectiva crítica e destaca o papel da Psicologia na construção de práticas educativas mais inclusivas, dialógicas e descoloniais.
A conversa também aponta caminhos para o enfrentamento coletivo da medicalização — nas políticas públicas, nas instituições de ensino e na própria formação de profissionais de Psicologia — reafirmando a necessidade de uma atuação ética, socialmente comprometida e transformadora.
Leia a entrevista completa abaixo!
CRP 01/DF: O que significa dizer que vivemos em uma sociedade medicalizada — e por que a Psicologia precisa se posicionar contra esse processo?
FAUSTON NEGREIROS: Dizer que vivemos em uma sociedade medicalizada é reconhecer que o modo de compreender a vida, o corpo e o sofrimento tem sido cada vez mais capturado pela lógica biomédica. Fenômenos que antes eram compreendidos como sociais, políticos ou pedagógicos passaram a ser interpretados como disfunções do indivíduo, diagnosticáveis e passíveis de correção. Assim, experiências humanas diversas — tristeza, inquietação, dificuldade de aprendizagem, modos singulares de ser — são traduzidas em categorias clínicas que prometem explicação e controle.
Na educação, isso se expressa de forma contundente. A escola, historicamente marcada por um ideal normativo de aluno, passa a transformar as diferenças em sintomas. Crianças que não se ajustam às expectativas de rendimento, comportamento ou atenção são rapidamente associadas a transtornos, deslocando para o campo médico o que é, muitas vezes, expressão das condições concretas de ensino, das desigualdades sociais, do racismo estrutural e das precariedades institucionais. O que poderia ser pensado como uma questão pedagógica ou política é convertido em uma demanda clínica.
A Psicologia, quando se coloca de forma crítica diante desse cenário, precisa interrogar seu próprio lugar nesse processo. Em muitos momentos, a profissão participou da construção de discursos que naturalizaram a exclusão e a patologização da diferença. Reconhecer isso é um passo ético e político fundamental. Posicionar-se contra a medicalização, portanto, não é negar a existência de sofrimento psíquico, mas recusar a redução da subjetividade às categorias diagnósticas e à lógica de ajuste.
Trata-se de afirmar uma Psicologia comprometida com a complexidade do humano e com as condições históricas que produzem o sofrimento. Uma Psicologia que compreende que a resposta ao mal-estar não está apenas no medicamento, no laudo ou na intervenção individual, mas na transformação das práticas escolares, das políticas públicas e das formas de convivência social.
Em síntese, enfrentar a medicalização é defender um projeto ético e político de Psicologia que se recusa a transformar a diferença em desvio e o sofrimento em patologia. É uma aposta na potência dos sujeitos e na reconstrução da escola como espaço de acolhimento, diálogo e emancipação, e não de controle e silenciamento.
CRP 01/DF: Como a medicalização se manifesta nas escolas e quais são os impactos desse olhar sobre crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento?
FAUSTON NEGREIROS: A medicalização se manifesta nas escolas, sobretudo, pela forma como elas passam a interpretar as dificuldades, os comportamentos e os modos de aprender das crianças e adolescentes. O que antes poderia ser compreendido como um desafio pedagógico, uma diferença de ritmo, uma reação às condições sociais ou mesmo um modo singular de se relacionar com o conhecimento, é frequentemente traduzido em termos clínicos: déficit de atenção, transtorno de conduta, dislexia, dislalia, entre tantos outros.
Esse movimento não surge do acaso. Ele está articulado a uma cultura escolar que, pressionada por exigências de desempenho, padronização e controle, tende a buscar respostas rápidas e individualizadas para problemas que são, em grande medida, coletivos. Diante das dificuldades concretas da escola — salas superlotadas, currículos rígidos, precarização do trabalho docente, ausência de políticas públicas efetivas —, a medicalização funciona como um mecanismo de alívio simbólico: localiza o problema na criança, e não nas condições de ensino e aprendizagem.
Os impactos desse olhar são profundos. Quando uma criança é reduzida a um diagnóstico, perde-se a compreensão de sua história, de suas experiências e de seu contexto. O laudo, muitas vezes, passa a anteceder o encontro com o sujeito. A escola deixa de se perguntar “o que essa criança nos mostra com seu modo de ser?”, para afirmar “essa criança tem um transtorno”. Esse deslocamento fragiliza a dimensão pedagógica e humana da educação e produz efeitos subjetivos de exclusão, estigmatização e silenciamento.
Para o desenvolvimento infantil e juvenil, as consequências são ainda mais graves. A criança passa a se ver e a ser vista a partir de uma narrativa de déficit, de incapacidade ou de desvio. Isso afeta sua autoestima, suas relações com colegas e professoras(es) e, principalmente, sua relação com o saber. Em muitos casos, o diagnóstico se converte em destino, limitando as possibilidades de reconhecimento e de construção de outras formas de existir na escola.
A Psicologia Escolar Crítica propõe o movimento inverso: escutar as manifestações da criança como linguagem, compreender o comportamento como expressão de vínculos, contextos e condições, e não como falha intrínseca. É um convite para deslocar o foco do déficit para a relação, da norma para a diversidade, do controle para a escuta.
Em suma, combater a medicalização na escola é defender uma educação que reconhece a complexidade do desenvolvimento humano e que se compromete com práticas emancipatórias capazes de acolher a diferença como potência, e não como sintoma.
CRP 01/DF: O que significa compreender a “queixa escolar” de forma crítica e como isso se diferencia da lógica medicalizante? Se quiser, pode comentar outros conceitos da sua produção acadêmica)
FAUSTON NEGREIROS: Compreender a “queixa escolar” de forma crítica é reconhecer que ela não é apenas um relato individual sobre o aluno, mas uma produção social, institucional e discursiva que revela como a escola significa a diferença e o fracasso. A queixa não nasce da criança, mas do encontro entre ela e uma escola que, muitas vezes, não consegue acolher sua singularidade. Quando um(a/e) professor(a/e) ou gestor(a/e) diz que um(a/e) estudante “não aprende”, “não presta atenção” ou “tem comportamento difícil”, essa fala expressa também o modo como a instituição lida com as tensões entre o ideal de aluno(a/e) que ela produz e as realidades concretas da vida escolar.
A leitura medicalizante, ao contrário, tende a transformar a queixa em diagnóstico. Ela parte do pressuposto de que há um déficit ou disfunção intrínseca ao sujeito, e, portanto, que a solução está em encaminhá-lo para avaliação médica ou psicológica. Essa lógica desloca o olhar da escola para o corpo do(a/e) aluno(a/e), apagando as dimensões pedagógicas, sociais e políticas que estão implicadas na origem da queixa.
Já uma leitura crítica implica interrogar o próprio lugar da escola e da Psicologia nesse processo: por que determinadas condutas ou ritmos de aprendizagem geram queixa, e outros não? Quais são as expectativas de normalidade que sustentam esses julgamentos? De que modo o contexto escolar e as políticas educacionais contribuem para produzir essas dificuldades?
Ao compreender a queixa como um sintoma institucional, e não como um problema do(a/e) estudante, a Psicologia Escolar Crítica amplia o campo de análise. O foco deixa de ser a correção do sujeito e passa a ser a transformação das práticas, dos vínculos e das condições de ensino que sustentam o mal-estar. Isso exige deslocar a escuta: da criança “problema” para a escola que fala por meio dessa criança.
Em minha produção acadêmica, costumo insistir na importância da escuta desmedicalizante, que não busca nomear o desvio, mas compreender o que o sofrimento enuncia sobre as relações, sobre a forma como o espaço escolar se organiza e sobre os modos de subjetivação que ele produz. A “queixa escolar”, nesse sentido, pode ser vista como uma oportunidade de reflexão institucional, um ponto de partida para a reconstrução das práticas pedagógicas e das relações educativas.
Trata-se, portanto, de um posicionamento ético e político. Compreender a queixa escolar de forma crítica é recusar o olhar que patologiza a diferença e assumir o compromisso de transformar as condições que fazem da escola, muitas vezes, um espaço de exclusão. É devolver à Psicologia seu papel de mediadora de sentidos e de promotora de práticas emancipatórias, e não de guardiã da norma.
CRP 01/DF: Quais caminhos você considera mais potentes para o enfrentamento coletivo da medicalização — nas políticas públicas, nas escolas e na própria formação de psicólogas e psicólogos?
FAUSTON NEGREIROS: O enfrentamento da medicalização exige uma ação articulada entre diferentes frentes — política, institucional e formativa — porque o fenômeno é estrutural. Ele não se resume a práticas isoladas, mas expressa uma lógica social que transforma desigualdades em diagnósticos e diferenças em disfunções.
Nas políticas públicas, o primeiro caminho é reconhecer que a medicalização é também uma questão de justiça social. A falta de condições de ensino, a precarização do trabalho docente, a ausência de políticas de cuidado e de inclusão acabam produzindo contextos de sofrimento que depois são individualizados. Políticas educacionais e de saúde precisam ser construídas de forma intersetorial, garantindo espaços de escuta, apoio psicossocial e participação comunitária. É preciso consolidar leis como a nº 13.935/2019, que prevê a atuação de profissionais de Psicologia e assistentes sociais na educação básica, e assegurar que essa presença não reproduza práticas clínicas dentro da escola, mas fortaleça a dimensão institucional, coletiva e política do cuidado.
Nas escolas, o enfrentamento da medicalização passa por reconstruir a cultura institucional. Isso implica romper com a lógica da triagem e do encaminhamento, substituindo o estigma de “aluno(a/e) problema” por uma leitura contextualizada das situações. É fundamental criar tempos e espaços de reflexão coletiva sobre as queixas escolares, envolvendo professores, gestores, famílias e estudantes. A escola precisa se autorizar a pensar sobre si mesma: o que as supostas dificuldades de aprendizagem revelam sobre o modo como organizamos o ensino? Que vozes são silenciadas quando rotulamos uma criança? Nessa perspectiva, o(a) psicólogo(a/e) escolar atua não como perito(a/e) do comportamento, mas como provocador(a/e) de processos institucionais de análise e mudança.
Por fim, na formação de psicólogas e psicólogos, o desafio é romper com a tradição que naturaliza a clínica como modelo hegemônico e individualizante. É preciso investir em uma formação crítica, capaz de articular Psicologia, Educação, Política e Ética. Uma formação que introduza o debate sobre a medicalização como fenômeno histórico e ideológico, que incentive práticas em territórios, em escolas públicas, em movimentos sociais, e que promova a reflexão sobre o lugar da Psicologia nas redes de poder e saber. Formar-se, aqui, não é apenas adquirir técnicas, mas aprender a ler o mundo e a se posicionar nele.
O enfrentamento da medicalização é um projeto coletivo de desnaturalização. Envolve devolver à escola sua função social e formadora, à Psicologia seu compromisso ético com a transformação, e às políticas públicas o dever de construir condições para que o sofrimento não precise ser patologizado para ser reconhecido. Trata-se, em última instância, de defender uma sociedade em que cuidar e educar não signifiquem normalizar, mas possibilitar existência, diferença e emancipação.
CRP 01/DF: Como a Psicologia pode contribuir para compreender os desafios da escolarização sem reduzir as dificuldades dos estudantes a diagnósticos individuais? Qual mensagem você deixaria às psicólogas e aos psicólogos do DF sobre o papel da categoria na defesa de uma educação e de uma sociedade menos medicalizantes?
FAUSTON NEGREIROS: A contribuição da Psicologia, quando comprometida com uma perspectiva crítica e emancipatória, é justamente recolocar a escolarização no campo da complexidade humana. Isso significa compreender que os desafios enfrentados por estudantes não podem ser lidos apenas a partir de seus comportamentos, desempenhos ou sintomas, mas precisam ser entendidos como expressão de processos sociais, históricos e institucionais.
A Psicologia pode — e deve — auxiliar a escola a ler as dificuldades não como falhas individuais, mas como manifestações de um contexto: de um currículo que não dialoga com a diversidade cultural; de práticas pedagógicas que reproduzem desigualdades; de políticas públicas que não garantem condições de ensino e cuidado. Essa leitura amplia o campo de ação: em vez de buscar ajustar o aluno à norma, a Psicologia contribui para transformar as condições que produzem o sofrimento e o fracasso escolar.
Isso exige deslocar o foco da intervenção. O trabalho psicológico na educação não se resume a identificar “o que há de errado com o(a) estudante”, mas a perguntar “o que a escola, o território e a sociedade estão produzindo com ele(a/u) e sobre ele(a/u)”. Esse movimento devolve sentido à atuação do(a/e) psicólogo(a/e) como agente de mediação, de escuta e de análise institucional — alguém que ajuda a escola a se pensar, a construir práticas coletivas e a produzir novas formas de convivência com a diferença.
Mas esse deslocamento exige também uma revisão epistemológica. É urgente que a Psicologia brasileira se reconheça como produtora de saberes próprios, enraizados em nossos territórios e modos de existir. Pensadores como Nêgo Bispo e Ailton Krenak nos convocam a praticar uma epistemologia contracolonial, que não apenas critica a colonialidade do saber, mas propõe outros modos de pensar e de viver. Essa inspiração nos faz ver que o enfrentamento da medicalização também passa pela descolonização do olhar psicológico: abandonar a pretensão universalizante e escutar os saberes locais, as pedagogias dos povos, as experiências coletivas que brotam das margens e resistem à lógica do diagnóstico e da homogeneização.
No caso do Distrito Federal, é fundamental reconhecer o protagonismo das comunidades escolares e territoriais. O enfrentamento à medicalização também pode nascer de dentro dessas comunidades, a partir de experiências compartilhadas, da escuta de estudantes, de professores(as) e de famílias. São esses coletivos que, ao se organizarem, reinventam práticas pedagógicas, constroem redes de cuidado e demonstram que outra escola é possível: uma escola que se pensa a partir de si, e não de modelos externos. A Psicologia, inserida nesse contexto, precisa se colocar como parceira desse protagonismo, mediando reflexões, abrindo espaços de diálogo e contribuindo para fortalecer o poder coletivo de criação e transformação.
Às psicólogas e aos psicólogos do DF — e, por extensão, a toda a categoria —, deixaria uma mensagem de esperança crítica e compromisso político: que sejamos capazes de construir uma Psicologia que não se limite a interpretar diagnósticos, mas que se comprometa a transformar as condições que os produzem. Significa defender uma Psicologia que não se submete à lógica da normalização, mas que afirma a potência da diversidade e da singularidade. É reconhecer que cada criança e cada jovem são autores(as) de uma história, de uma cultura, de uma voz, e que a escola deve ser o espaço em que essas vozes possam existir, e não serem silenciadas por rótulos e diagnósticos.
Uma Psicologia que se reconhece parte da comunidade e que compreende que defender uma educação menos medicalizante é também lutar por uma sociedade mais justa, plural e contracolonial — uma sociedade que não patologiza o diferente, mas o acolhe como fonte de aprendizado e de humanidade.
Defender uma educação não medicalizante é lutar por políticas públicas que garantam condições dignas de ensino e cuidado; por formações que articulem teoria e compromisso social; e por práticas que façam da Psicologia uma força crítica dentro das instituições. Em última instância, trata-se de reafirmar a Psicologia como campo de resistência e de invenção, capaz de transformar a queixa em reflexão, o sofrimento em palavra e a diferença em possibilidade de emancipação.
#DescreviParaVocê: Imagem colorida conta com parte do conteúdo textual acima, com ilustração de um microfone compondo uma chamada para a leitura completa da entrevista, com a foto de rosto do profissional entrevistado e a marca gráfica do CRP 01/DF.
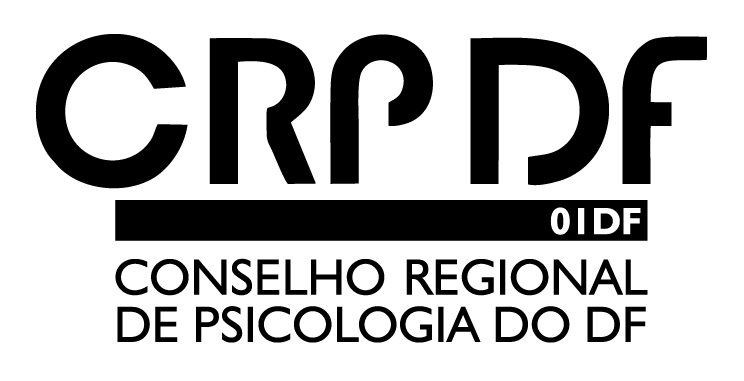
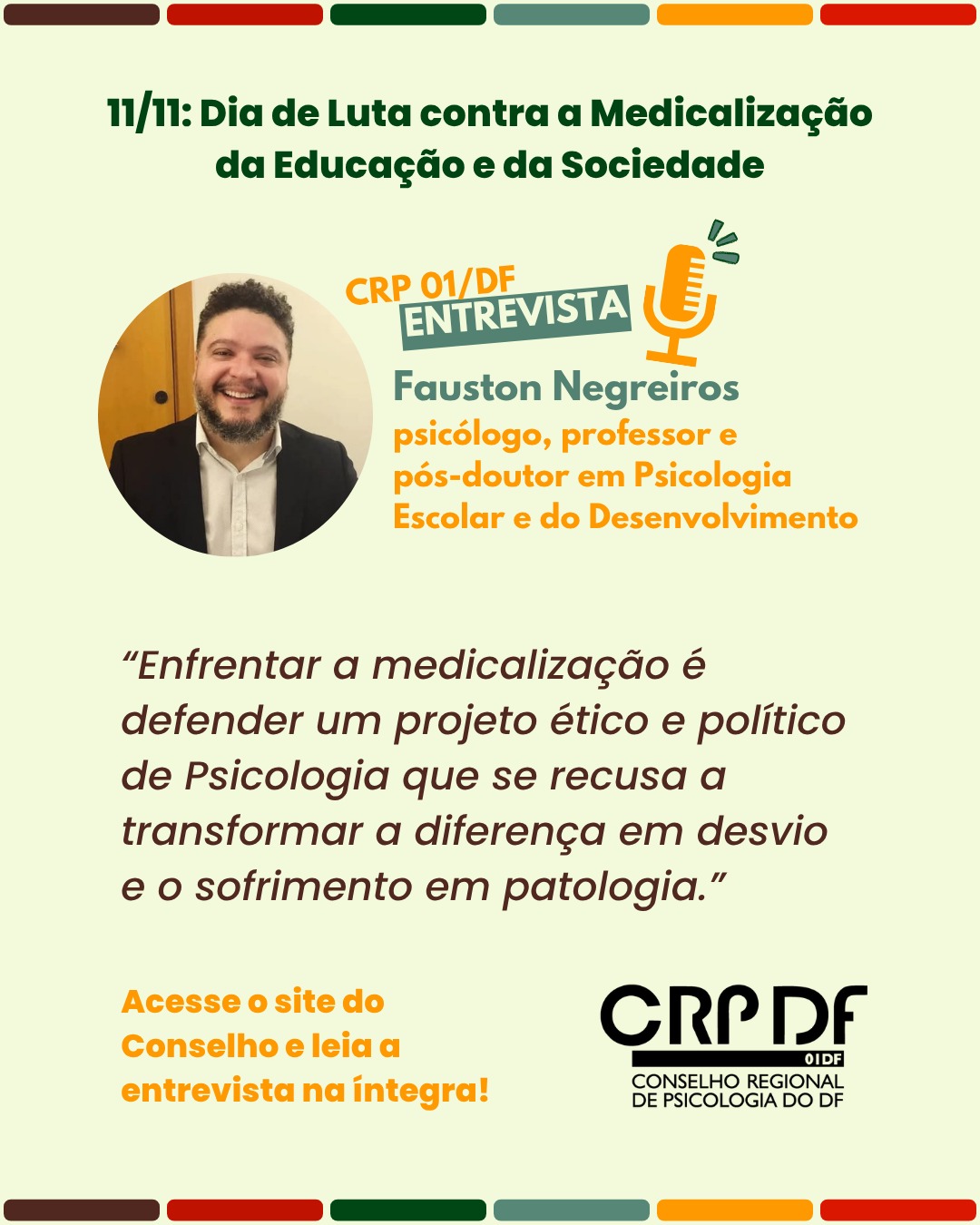 | CRP 01/DF ENTREVISTA |
| CRP 01/DF ENTREVISTA |