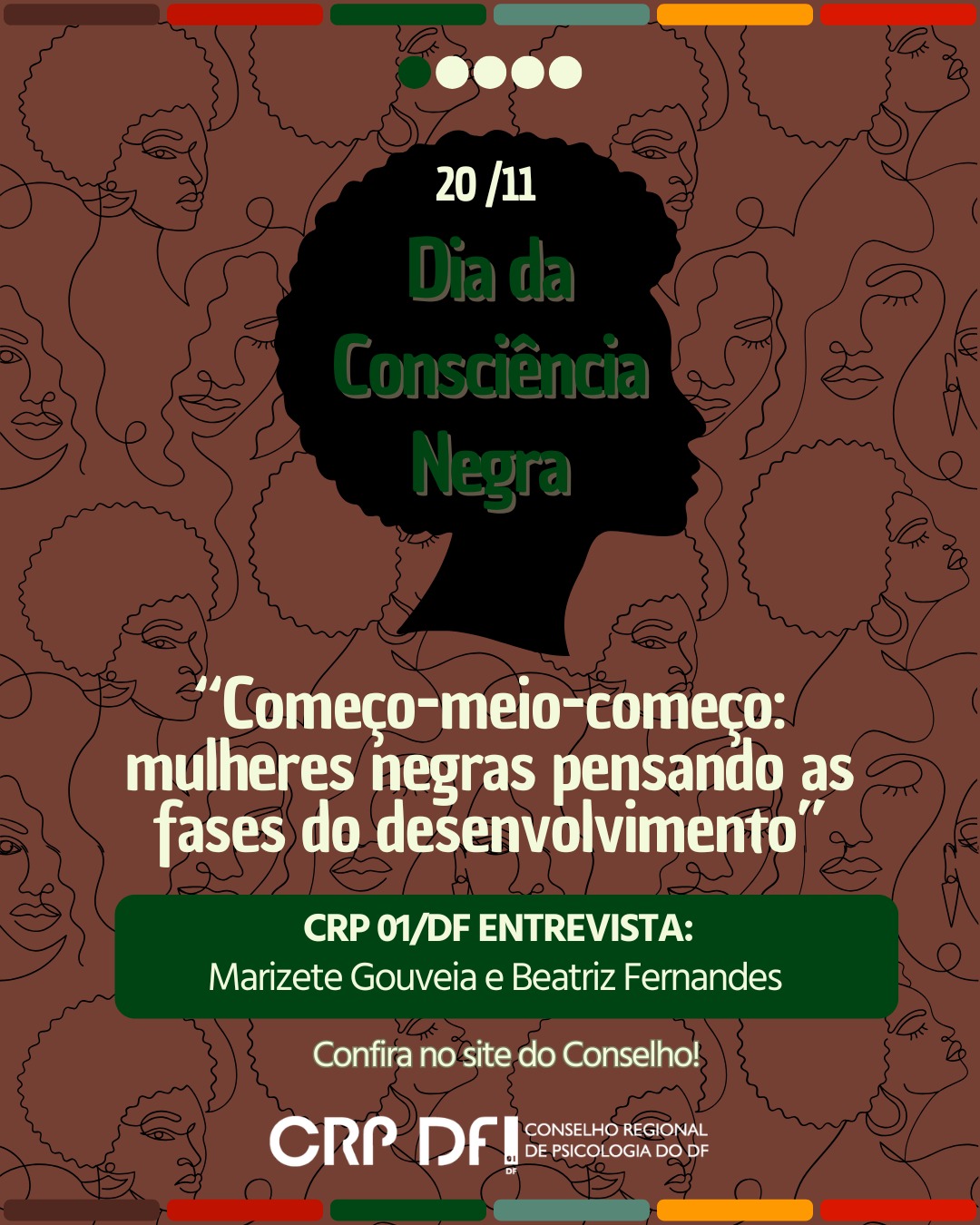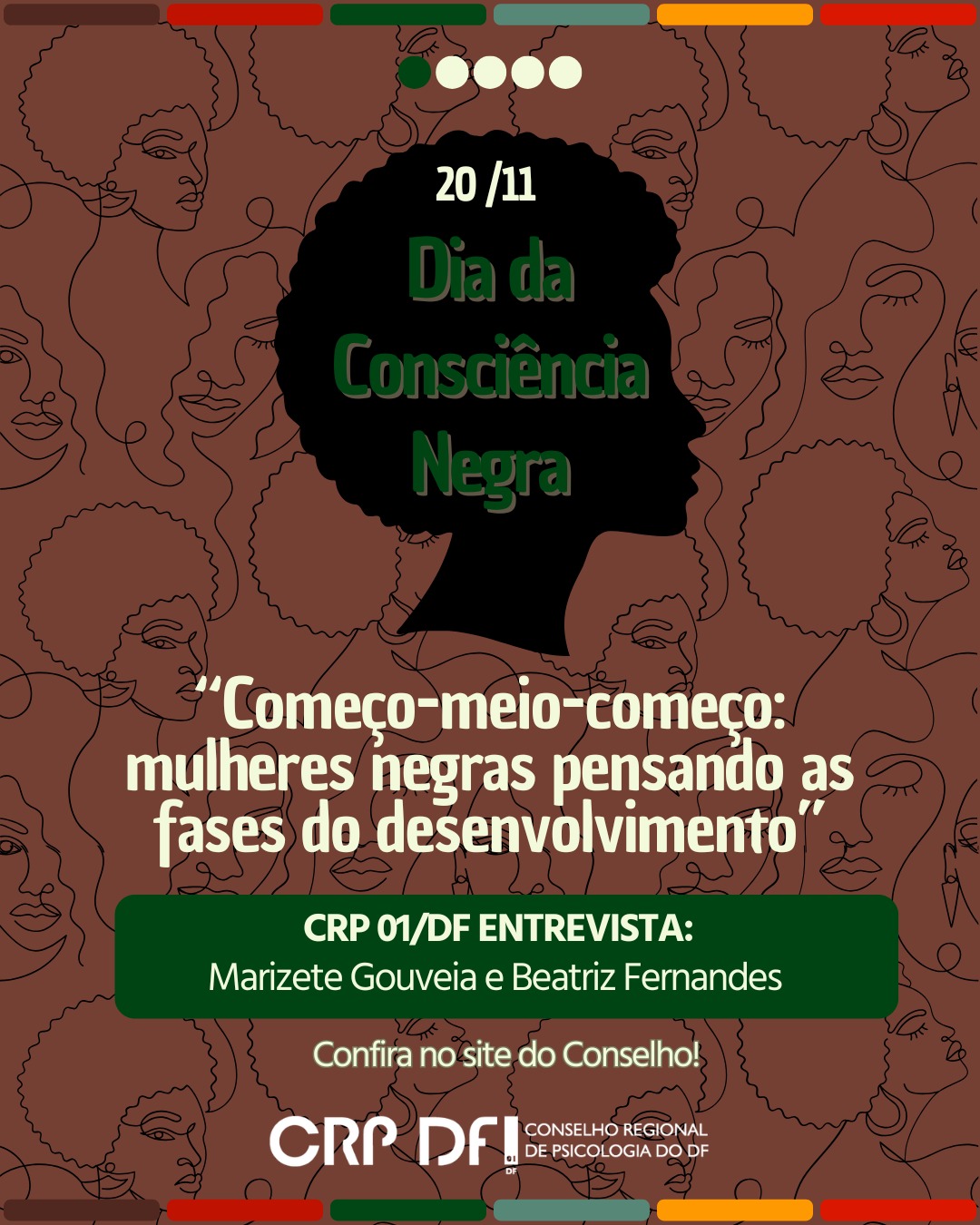
20/11 - Dia da Consciência Negra
Confira a entrevista com as psicólogas Marizete Gouveia e Beatriz Fernandes sobre o tema “Começo-meio-começo: mulheres negras pensando as fases do desenvolvimento”
No Dia da Consciência Negra, convidamos você a refletir sobre dignidade, pertencimento e Bem Viver ao longo da vida. Inspirado no conceito de “começo-meio-começo”, de Nego Bispo, este diálogo traz uma visão não linear da existência, em que trajetórias negras se reinventam, recriam caminhos e afirmam potências em todas as idades.
Nesta entrevista dupla, Beatriz Fernandes aborda a infância e a juventude pretas, enquanto Marizete Gouveia reflete sobre o envelhecimento da população negra. Juntas, elas apontam o papel da Psicologia na afirmação identitária, na promoção de vidas possíveis e na construção de futuros que honram as ancestralidades.
Marizete Gouveia Damasceno Scott (CRP 01/6189), doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, e Beatriz Fernandes Cruz (CRP 01/24374) integram a Comissão de Raça, Povos Indígenas e Povos Tradicionais do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, além de desempenharem outros trabalhos em Psicologia dentro e fora da autarquia.
–
Confira a entrevista na íntegra:
CRP 01/DF: O conceito “começo-meio-começo”, de Nego Bispo, nos convida a pensar o desenvolvimento humano de forma cíclica, não linear. Como vocês interpretam esse conceito nas trajetórias das pessoas negras — especialmente na infância e juventude (Beatriz) e no envelhecimento (Marizete)?
BEATRIZ FERNANDES: Vejo o conceito de Nego Bispo como um convite a pensar o desenvolvimento com os pés no nosso território, que vive em constante ato de resistência, inclusive no desenvolvimento, onde cada etapa da vida é marcada por recomeços e construções constantes. Quando aplicamos essa perspectiva às trajetórias de crianças e adolescentes negras(os/es), percebemos que essas pessoas enfrentam desafios estruturais que impactam profundamente seu desenvolvimento: o racismo, a evasão escolar, o apagamento de suas raízes culturais e históricas e um sistema que frequentemente reduz sua existência à descendência de pessoas escravizadas, inferiorizando seus corpos e experiências.
A obra Tornar-se Negro, de Neusa Santos, nos ajuda a compreender que a negritude é um processo de formação identitária, que se constrói na vivência do racismo, no paradigma de um Ideal branco já constituído. E é a partir da emancipação que se constrói este corpo negro, não moldado em normas brancas. Isso mostra a importância de se criar espaços de reconhecimento, cuidado e afirmação cultural, para que essas infâncias e juventudes negras possam se desenvolver plenamente, apesar das barreiras impostas pela sociedade.
Portanto, começo-meio-começo, nos reORIenta a pensar e agir com infâncias e juventudes negras que estão em constante luta para a sobrevivência.
MARIZETE GOUVEIA: O conceito de “começo–meio–começo” nos ajuda a pensar a vida não como uma linha reta, mas como um ciclo. Um movimento em que cada fase contém a possibilidade de recomeçar. Embora Lélia Gonzalez não use literalmente essa expressão, ela trabalha uma ideia muito próxima: a de que, na experiência negra, passado, presente e futuro coexistem. A ancestralidade não é algo que ficou atrás; ela atua no agora e projeta o que ainda pode existir. Leio isso como uma abordagem Sankofa da experiência vital.
Essa frase aparece, porém, de forma literal na obra e na oralidade de Nêgo Bispo. Ele diz: “Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre…”. É uma formulação que expressa sua cosmologia quilombola, em que nada se encerra definitivamente. Tudo é ciclo, tudo retorna, tudo se transforma.
Quando aproximamos essas duas perspectivas, especialmente pensando as trajetórias das pessoas negras, algo muito bonito aparece: o envelhecimento deixa de ser visto como um fim, e se torna um novo começo. Diante de um histórico de rupturas, perdas e reinvenções constantes, envelhecer é entrar numa fase em que os saberes acumulados — pessoais, comunitários e ancestrais — se tornam fonte de reconstrução.
Nessa leitura, a pessoa idosa negra não é alguém que está “encerrando um percurso”, mas alguém que inaugura outras possibilidades. Na visão de Bispo, a geração avó abre caminhos para a geração neta; na de Lélia, a memória é força de transformação social. As duas perspectivas confluem no entendimento de que o fim nunca é fim — é sempre passagem, sempre recomeço.
Assim, o envelhecimento negro pode ser visto como um tempo de potência: um momento em que se juntam experiência, sabedoria e continuidade. Um tempo em que se reafirma que a vida negra é feita de reexistências, de ciclos que se renovam e de começos que nunca deixam de acontecer.
CRP 01/DF: Quais são os principais desafios que a Psicologia enfrenta ao compreender o desenvolvimento da população negra, considerando as marcas históricas do racismo estrutural e suas implicações subjetivas nas diferentes fases da vida?
BEATRIZ FERNANDES: Um dos principais desafios da Psicologia ao compreender o desenvolvimento da população negra é lidar com seu próprio histórico de epistemicídio. Historicamente, a Psicologia contribuiu para a marginalização e até mesmo para o extermínio simbólico e social de pessoas negras, universalizando teorias e práticas que desconsideram nossos saberes, culturas e experiências. Por isso, é fundamental que a Psicologia se comprometa a um trabalho crítico e ladino-amefricano, ou seja, que se apoie nos próprios saberes da população negra para pensar esses sujeitos como plenamente humanos. Isso envolve reconhecer como o racismo impacta identidades, influencia na autoestima, cria e condiciona patologias e estereótipos em trajetórias desde a infância.
É um desafio também desvincular a pessoa negra do racismo, assim como valorizar as resistências que existem no território Pindorama desde antes da vinda de pessoas Africanas escravizadas e européias, como também as revoluções criadas aqui. A associação de pessoas negras ao racismo-dor-impotência é um vício ontológico, é uma estratégia de manutenção. Acredito que o trabalho ainda é basilar: primeiro precisamos nos reconhecer enquanto povo, mas é imprescindível que esse reconhecimento esteja confluindo com as nossas potencialidades, pois, se estamos com vida até hoje, é porque tecnologias de Bem Viver estão sendo criadas…
MARIZETE GOUVEIA: A Psicologia ainda enfrenta um grande desafio quando tenta compreender o desenvolvimento da população negra: ela precisa reconhecer que o racismo estrutural não é um detalhe externo, mas um elemento que atravessa todas as fases da vida. Desde a infância, passando pela juventude, pela vida adulta e chegando à velhice, o racismo produz efeitos emocionais, sociais e subjetivos que não podem ser ignorados.
Um segundo ponto importante é que muitos modelos clássicos de desenvolvimento humano foram criados a partir de referências eurocêntricas. Eles partem de experiências individuais, brancas e ocidentais como se fossem universais. E isso faz com que a experiência negra — que é coletiva, histórica, cultural e marcada pela resistência — fique invisível.
Por isso, a Psicologia precisa se deslocar. Ela precisa incorporar perspectivas críticas, culturais e interseccionais que realmente deem conta do que vivemos no Brasil. Isso significa rever currículos, formar profissionais sensíveis às questões raciais e compreender tanto as formas de adoecimento quanto as formas de resistência e resiliência que a população negra desenvolveu ao longo da história.
Outro desafio é estrutural: precisamos ampliar o acesso a serviços de saúde mental adequados, desde o acolhimento psicológico até a atenção psiquiátrica, garantindo que cheguem a todas as pessoas que compõem a população brasileira. Isso exige políticas públicas, formação continuada e um esforço coletivo para que a Psicologia deixe de reproduzir o racismo institucional e se torne, de fato, uma ferramenta de cuidado, compreensão e transformação social.
CRP 01/DF: Como a presença de referências negras — familiares, educadoras, lideranças, profissionais… — impacta o desenvolvimento psicológico e a construção da identidade nas infâncias e juventudes pretas (Beatriz) e no envelhecimento da população negra (Marizete)?
BEATRIZ FERNANDES: Vou me basear um pouco na psicanálise para ilustrar essa resposta, especialmente no conceito do estádio do espelho de Lacan. Ele nos mostra como a criança se reconhece como sujeito a partir da imagem que vê de si mesma, mediada pelo olhar do outro. Mas, no caso de crianças e jovens racializades, este espelho está distorcido pelo racismo: em vez de devolvê-las como seres completos e valiosos, reflete rejeição e negação, gerando dificuldades na construção do eu. É aí que a presença de referências negras faz toda a diferença. Esses olhares e presenças funcionam como um espelho reparador, mostrando às crianças e jovens pretas e pretos que eles são vistos, valorizados e pertencentes. Estudar Lélia Gonzalez, me instiga a pensar que é preciso criar espaços onde a infância preta se veja afirmada, conectada à ancestralidade e à coletividade, com a possibilidade de um vir-a-ser.
MARIZETE GOUVEIA: A presença de referências negras ao longo da vida tem um efeito profundamente estruturante no desenvolvimento psicológico. Do ponto de vista clínico, essas figuras — familiares, educadoras(es), lideranças comunitárias ou profissionais — atuam como organizadoras internas importantes. Elas oferecem modelos identificatórios positivos, capazes de sustentar autoestima e dar sentido de valor e pertencimento em uma sociedade que, muitas vezes, nega esses mesmos elementos à população negra.
Essas referências ajudam a pessoa negra a construir narrativas de si mais coerentes e menos atravessadas pelos efeitos do racismo internalizado, que pode gerar sentimentos de menor valia, distorções identitárias e fragilidades emocionais. Na prática clínica, isso aparece como um fortalecimento do self, ampliando recursos internos, regulando afetos e permitindo que a pessoa reorganize sua história a partir de um lugar mais digno.
Quando pensamos no envelhecimento, esse impacto ganha uma camada ainda mais sensível. A pessoa idosa negra carrega uma trajetória de enfrentamentos, interrupções e reinvenções constantes. Ter referências negras presentes — ou poder revisitar as que marcaram a vida — ajuda a ressignificar essas experiências, validando a força, a criatividade e a resistência que sustentaram a caminhada até ali. É um processo que favorece não apenas saúde mental, mas também uma reconciliação com a própria história.
E há algo muito bonito nisso: ao reencontrar essas referências, a pessoa idosa não só compreende melhor o seu passado, como também encontra novos começos possíveis. É um envelhecimento que não se fecha, mas se abre. Um envelhecimento que dialoga com essa ideia tão forte no pensamento de Nêgo Bispo — de que somos começo, meio e começo. Ou seja: mesmo na maturidade, a presença de outras pessoas negras significativas acende caminhos, reorganiza sentidos e sustenta a continuidade da vida.
CRP 01/DF: Pensando a atuação da Psicologia para além do consultório, de que formas a profissão pode contribuir para promover o bem viver, a autonomia e a dignidade das pessoas negras ao longo de todo o ciclo da vida?
BEATRIZ FERNANDES: Atuando como profissão ético-histórico-política! Sofia Favero em Psicologia Suja, nos provoca a sujar a cara dessa psicologia asséptica, essa que nem sempre serve às nossas comunidades. O trabalho do psicólogo deve incluir escuta crítica, intervenção comunitária e promoção de políticas públicas que garantam educação, saúde e direitos humanos para além dos básicos. É preciso estar nos terreiros, quilombos, batalhas de rap, ruas, feiras, nas esquinas, nos becos e vielas… Poderia citar muitos lugares que a Psicologia não alcança – e esses são lugares onde também se (re)constrói humanidade, muitas vezes mais do que em salas tradicionais de Psicologia.
MARIZETE GOUVEIA: Quando pensamos a Psicologia para além do consultório, abrimos espaço para uma atuação que realmente transforma a vida das pessoas negras — não só no nível individual, mas também no coletivo e no estrutural. Isso exige que a profissão reconheça que o cuidado psicológico não se limita ao atendimento clínico; ele também se constrói na comunidade, nas escolas, nos territórios, nas políticas públicas, nas organizações e nas relações sociais.
Do ponto de vista técnico, a Psicologia pode contribuir de diversas formas. Primeiro, criando e fortalecendo espaços de escuta que levem em conta a experiência racial, porque o sofrimento psíquico da população negra muitas vezes nasce de vivências que são sociais e históricas, não apenas individuais. Programas de promoção da saúde mental que abordem o estresse racial, a violência simbólica e as desigualdades são fundamentais nesse sentido.
Outro eixo importante é o trabalho de valorização da identidade e da cultura negra, que fortalece pertencimento, autoestima e autonomia. A Psicologia pode atuar em parceria com lideranças, escolas, quilombos urbanos, movimentos culturais — sempre respeitando e dialogando com os saberes produzidos nesses espaços, que muitas vezes não foram reconhecidos pela tradição eurocêntrica da área.
Também é essencial que psicólogas e psicólogos se envolvam na incidência de políticas públicas que enfrentem desigualdades raciais: desde políticas de saúde e educação, até ações intersetoriais que impactam em moradia, trabalho e proteção social. A clínica tem o seu papel, mas a política do cuidado é ampla.
No plano institucional e organizacional, a atuação psicológica deve incluir análise institucional do racismo, elaboração de protocolos antidiscriminatórios, promoção de ambientes seguros e ações educativas voltadas para enfrentamento de microagressões e desigualdades. Isso requer domínio de metodologias de gestão de conflitos, mediação e formação de equipes em diversidade e inclusão com enfoque psicossocial.
E, claro, tudo isso só é possível se a formação em Psicologia for repensada. Precisamos de profissionais que compreendam o racismo como um determinante da saúde mental, que saibam trabalhar de maneira interseccional e culturalmente sensível e que reconheçam a potência dos saberes negros na produção de cuidado.
Quando a Psicologia se coloca dessa forma — comunitária, crítica, comprometida — ela não só reduz sofrimento, como promove bem viver, fortalece autonomia e ajuda a construir dignidade ao longo de todas as etapas da vida, da infância à velhice. Ela passa a ser parte do ciclo de reconstrução que sustenta a vida negra.
CRP 01/DF: Que mensagens ou reflexões vocês gostariam de deixar para as e os profissionais da Psicologia (sendo elas pessoas de cor ou não) que desejam atuar com um olhar racializado sobre o desenvolvimento humano — desde o começo até o recomeço?
BEATRIZ FERNANDES: É fundamental reconhecer que a profissão não é neutra: historicamente, contribuiu para o genocídio, a institucionalização de pessoas negras e a morte do povo preto. Isso exige uma postura crítica e ética, que vá além do consultório, atuando nos territórios humanos e nas lutas por políticas públicas e justiça social. Atuar com um olhar racializado implica investir em formação continuada, estudar psicologias e teorias negras e descentralizar a escuta de uma filosofia que parte apenas de princípios gregos e eurocêntricos. Para compreender verdadeiramente infâncias, juventudes e vidas negras, é preciso escutar com mais jenipapo, dendê, umbu, açaí, buriti e pequi, ou seja, com a riqueza do que cada território carrega, culturas, ancestralidades e saberes contracoloniais.
MARIZETE GOUVEIA: Eu diria que, para quem deseja trabalhar com um olhar racializado sobre o desenvolvimento humano, o ponto de partida é reconhecer que a experiência negra não se organiza a partir de uma linha reta. Ela é marcada por interrupções, deslocamentos, resistências e também por muitos tropeços e recomeços. E isso exige que a Psicologia abandone qualquer ideia de neutralidade. O desenvolvimento não é universal; ele é atravessado por raça, por história, por território, por cultura, além de outros marcadores.
Para atuar de forma ética, é fundamental que psicólogas e psicólogos — sejam pessoas negras ou não — se comprometam com uma prática verdadeiramente antirracista. Isso implica revisar referenciais teóricos, questionar modelos normativos de desenvolvimento, ampliar repertórios e criar espaços de escuta que acolham experiências raciais sem patologizá-las. Implica também fortalecer identidades negras, valorizar trajetórias e reconhecer o papel central da cultura e da ancestralidade na construção do self.
Do ponto de vista clínico e institucional, isso significa sustentar um olhar sensível e tecnicamente preparado para compreender como o racismo se inscreve no corpo, nas emoções, na memória e na biografia. Mas significa também reconhecer que há potência, criatividade, inteligência coletiva e uma enorme capacidade de reinvenção na forma como pessoas negras constroem suas vidas, desde o começo até os muitos recomeços que marcam o ciclo vital.
E eu acrescentaria algo que considero essencial: a empatia como competência profissional, algo que pode ser adquirido por treinamento. Não uma empatia genérica, mas uma empatia ativa, informada, que entende que não é possível dominar todas as culturas ou cosmovisões — mas é possível cultivar uma postura de abertura, curiosidade ética e disponibilidade real para compreender o outro a partir de seus próprios referenciais.
No fundo, a mensagem é simples e profunda: atuar com um olhar racializado é um compromisso ético com a equidade, com a dignidade e com a humanidade de cada pessoa negra que atravessa o nosso trabalho. O olhar racializado é política de ação afirmativa, é enfretamento à desigualdade racial. É um convite para que a Psicologia se descolonize, para participar da construção de futuros mais vivos, mais justos e mais possíveis.
#DescreviParaVocê: As imagens coloridas trazem parte do conteúdo textual acima, com uma chamada para a leitura da entrevista no site do CRP 01/DF. As imagens contam com a marca gráfica do CRP 01/DF, com a fotografia de rosto das entrevistadas e seus mini-currículos, além de ilustrações de silhuetas de mulheres negras.
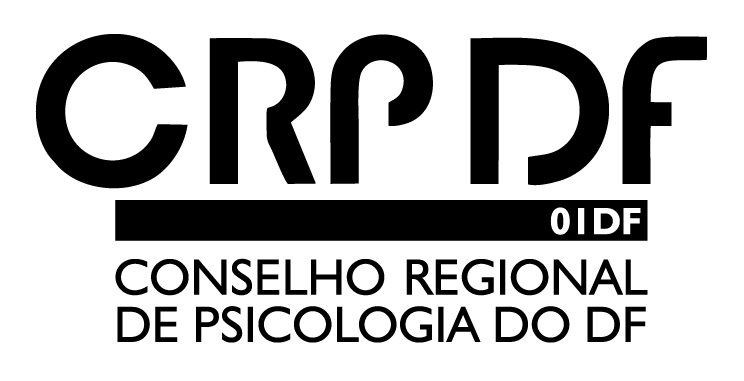
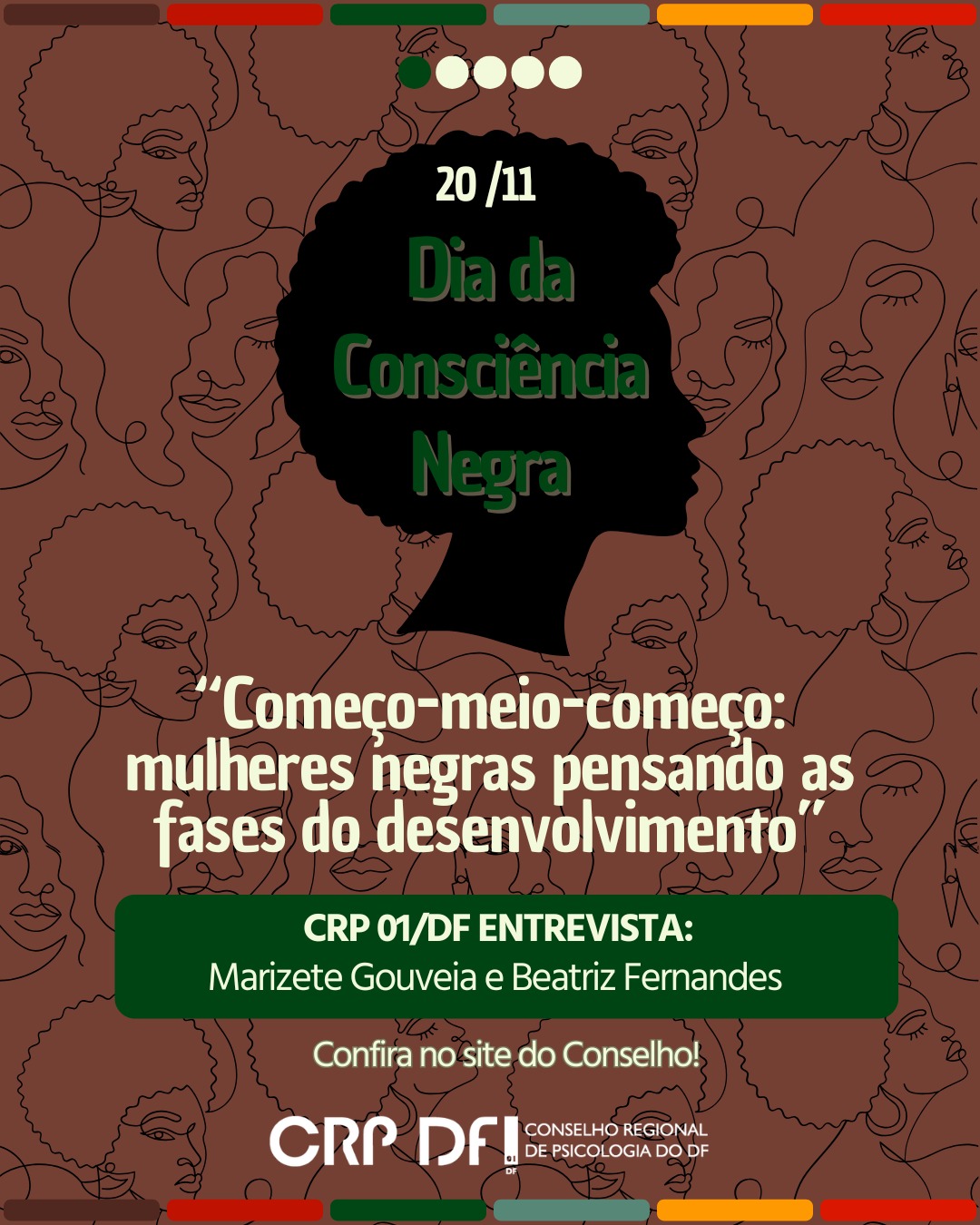
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)