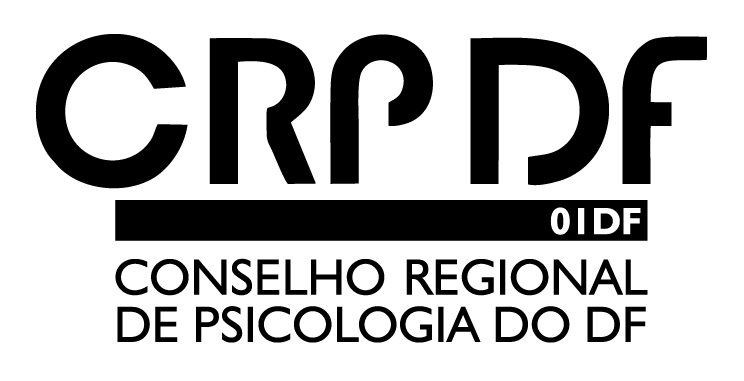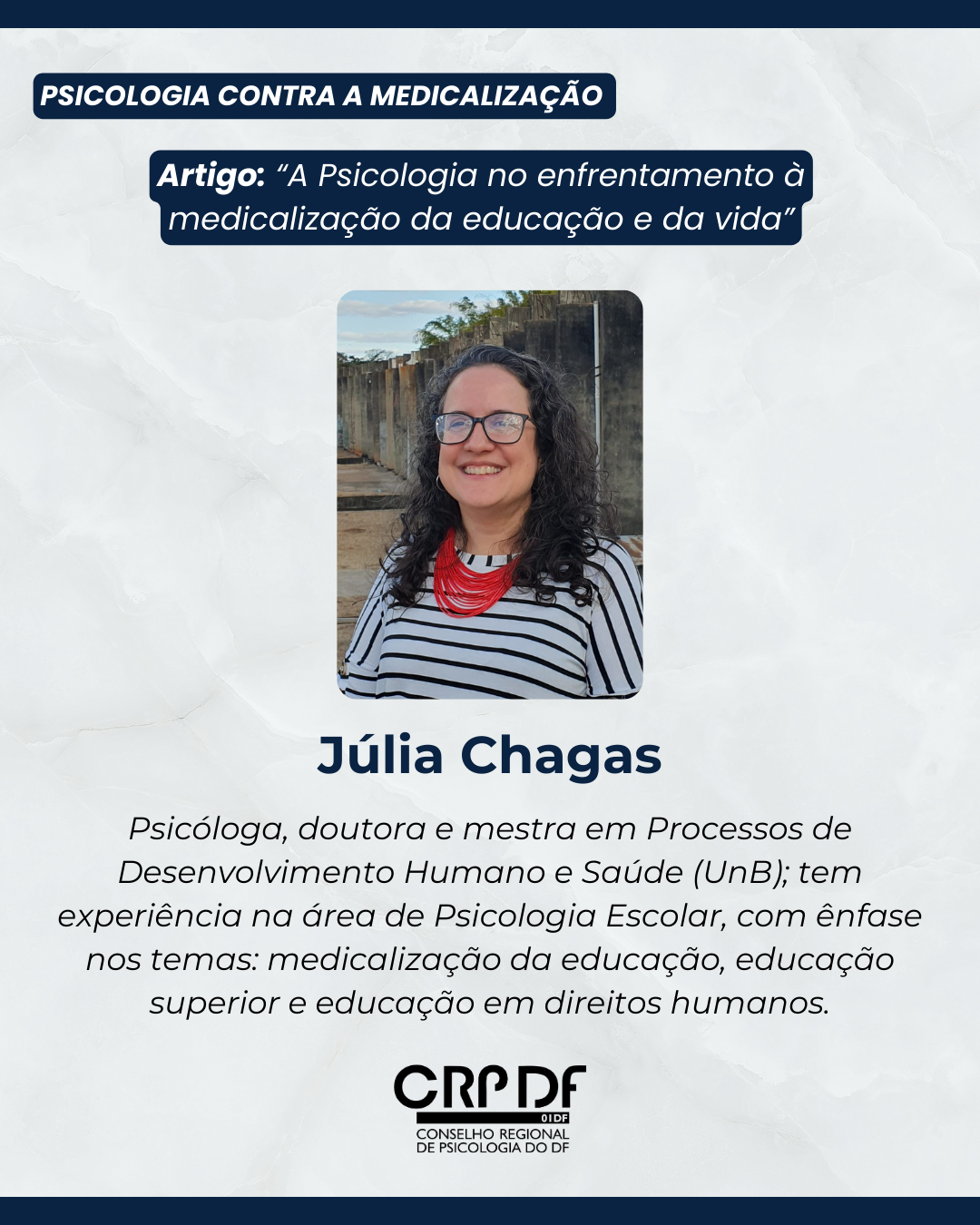Por Júlia Chagas*
Desde 2010, o Conselho Federal de Psicologia compõe o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade em mobilização com outros conselhos de classe, entidades, grupos e indivíduos de diversas áreas acadêmico-profissionais com o objetivo de ampliar o debate sobre a medicalização da educação e da vida. Esse coletivo realiza a luta de visibilizar e ampliar a discussão da temática e a busca por alternativas que promovam a justiça social, o respeito à diversidade e a desmedicalização da vida.
Esse enfrentamento se dá num contexto de intensificação da medicalização no Brasil, baseada na ideologia capitalista neoliberal, que promove o desmonte do Estado e das políticas sociais, produzindo o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses, conforme Marilena Chauí (2014) sintetiza. A medicalização se exacerba nesse contexto porque é justamente um processo de responsabilização individual em que complexas questões sociais e educacionais são reduzidas a explicações médicas, transformando comportamentos e dificuldades em doenças, a serem tratadas geralmente por meio de medicamentos. Segundo o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (2023), é uma prática que se fundamenta em uma racionalidade que naturaliza a vida humana e estabelece um conjunto de normas sobre o que é considerado desejável ou indesejável, moldando a percepção de desenvolvimento, comportamento e identidade em diferentes contextos sociais. Expressa-se de forma ainda mais perversa sobre as vidas atravessadas pelos marcadores de opressão.
A luta contra a medicalização da educação e da sociedade enfrenta cada vez mais uma contradição crucial na perspectiva da garantia de direitos para pessoas que vivenciam uma inadaptação nas instituições atuais: a busca por direitos muitas vezes leva à medicalização. Vemos, por exemplo, muitas famílias sendo levadas a procurar laudos médicos para que possam negociar junto às escolas as intervenções pedagógicas adequadas à promoção do desenvolvimento de suas crianças. Normaliza-se, assim, a prática de que diagnosticar é o primeiro passo para a garantia de direitos, camuflando as deficiências do processo de escolarização e promovendo uma homogeneização da aprendizagem que leva à estigmatização, à segregação, ao adaptacionismo e ao conformismo.
Essas pessoas que vivenciam um acolhimento inadequado nas mais diversas instituições a que pertencem têm o direito de serem acolhidas adequadamente. Entretanto, para que isso seja garantido, não deveria ser necessário buscar a patologização da sua forma de ser, ou seja, buscar um diagnóstico de um suposto transtorno/distúrbio/doença. A garantia deveria vir de instituições menos estruturadas sobre a normalização das formas de existência e mais dispostas a se rever e se adaptar às condições de quem a elas pertence.
É frequente que, ao questionar essa lógica reproduzida cotidianamente nas escolas, serviços de saúde e nos mais diversos espaços públicos e privados, essa luta seja percebida como contrária às pessoas que experienciam essas dificuldades e buscam essas soluções medicalizantes. Falar de medicalização não é falar contra o sofrimento das pessoas. Não é negar que enfrentam uma vida que lhes diz cotidianamente, nos mais diversos espaços, que tem algo errado com elas. Pelo contrário: é propor a subversão das instituições para que realmente sejam guiadas pelo direito de toda e cada pessoa, da forma como for. Para que as pessoas não sejam levadas a essa sensação de inadequação.
Enquanto a lógica medicalizante não for cessada e as relações sociais que a sustentam permanecerem inalteradas, não estarão garantidos efetivamente os direitos de cada criança, adolescente e adulto a uma educação de qualidade, de cada trabalhadora e trabalhador a condições dignas de trabalho, de toda pessoa a fazer suas escolhas de vida de forma autônoma e tê-las respeitadas por toda a sociedade. Essa suposta garantia de direitos por meio de diagnósticos e redução dos sofrimentos humanos a problemas de saúde mental é um engodo, uma dissimulação, um simulacro de justiça.
A discussão dos direitos humanos precisa sempre ser articulada à oposição política radical à sociedade da primazia dos direitos mercantis. A luta contra a medicalização da sociedade e da vida é luta anticapitalista (Kalmus, 2023), portanto não pode ser dissociada da crítica à sociedade neoliberal responsável pelo constante ataque a direitos, endurecimento de ações de controle, inclusive por dispositivos farmacológicos de silenciamento de atitudes contestatórias e formas de existência divergentes da suposta normalidade estabelecida.
Aprendemos com Paulo Freire que “mudar é difícil, mas é possível” e a psicologia, enquanto ciência e profissão, vem se posicionando significativamente nessa luta por meio de sua participação fundamental no Fórum contra a Medicalização da Educação e da Sociedade. Nesse contexto, sua atuação encontra-se articulada com uma ação política crítica aos processos de patologização e medicalização que tem influenciado diretamente as políticas públicas, gerando resultados concretos antimedicalizantes. Entretanto, como nos relembra publicação do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedada, é imprescindível reafirmar que essa luta demanda oposição radical ao nosso modelo de sociedade e sínteses e unificação com os demais movimentos (feministas, LGBTQIA+, sem-terra, negras, negros e quilombolas etc.), uma vez que é a luta coletiva que muda as nossas vidas.
Referências:
Chauí, M. (2014) A ideologia da competência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo/ Autêntica.
Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (2023). Manifesto desmedicalizante e interseccional: “existirmos, a que será que se destina?”. Em Lygia de S. Viégas, Elaine C. de Oliveira & Hélio da S. Messeder Neto, Existirmos, a que será que se destina?, pp. 241-249. Salvador: EdUFBA.
Freire, Paulo (2000). Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP.
Kalmus, Jaqueline (2023). Medicalização da educação e neoliberalismo: do silenciamento ao grito teimoso. Em Lygia de S. Viégas, Elaine C. de Oliveira & Hélio da S. Messeder Neto, Existirmos, a que será que se destina?, pp. 171-185. Salvador: EdUFBA.
*Júlia Chagas é psicóloga, doutora e mestra em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pelo Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento da Universidade de Brasília; tem experiência na área de Psicologia Escolar, com ênfase nos seguintes temas: medicalização da educação, educação superior e educação em direitos humanos; atualmente, é psicóloga escolar da UnB.
#DescreviParaVocê: a imagem colorida conta com uma chamada para leitura do artigo, além da marca gráfica do CRP 01/DF e de uma fotografia da autora. Júlia Chagas é uma mulher branca com cabelos pretos e cacheados abaixo dos ombros, usa óculos de grau, um colar vermelho e uma blusa listrada em preto e branco. Ao fundo, um muro e algumas árvores.